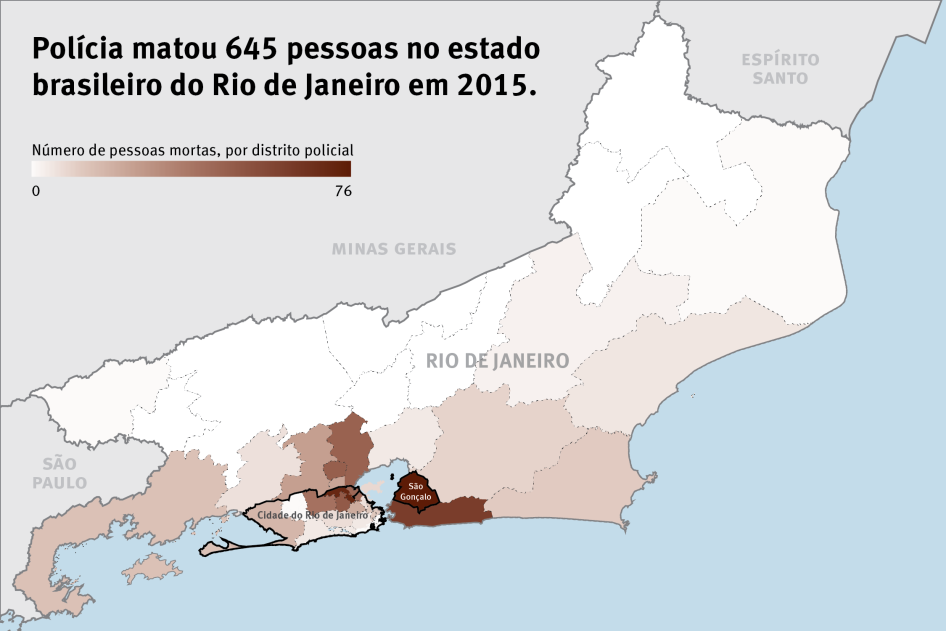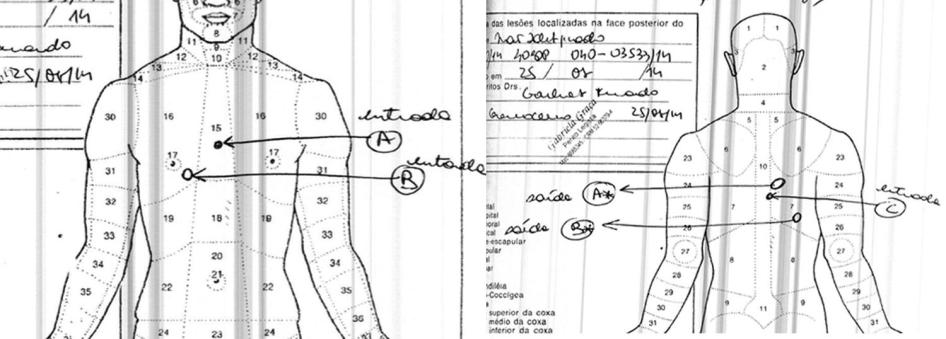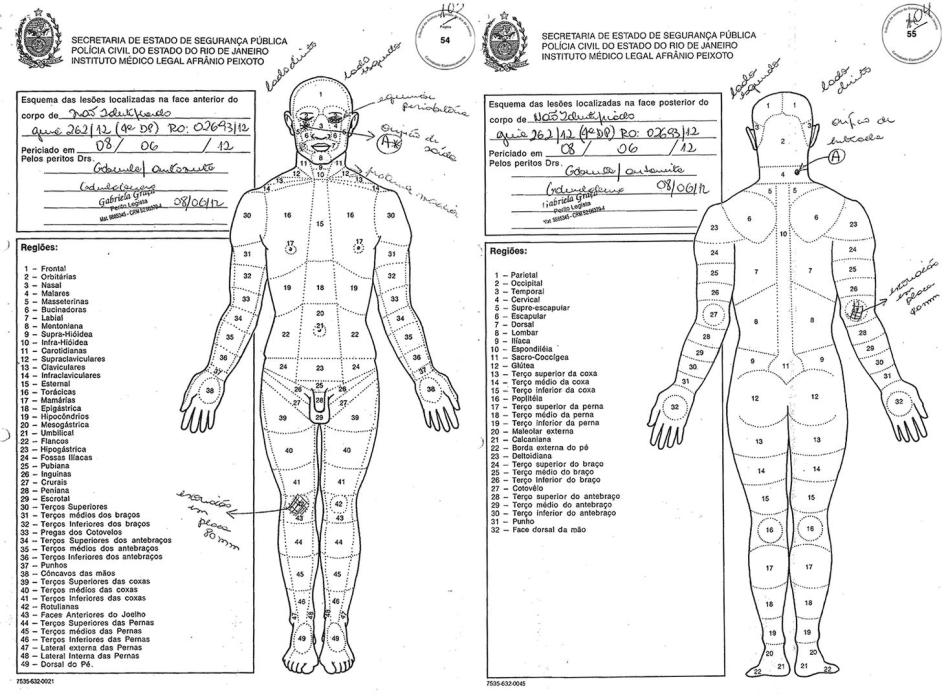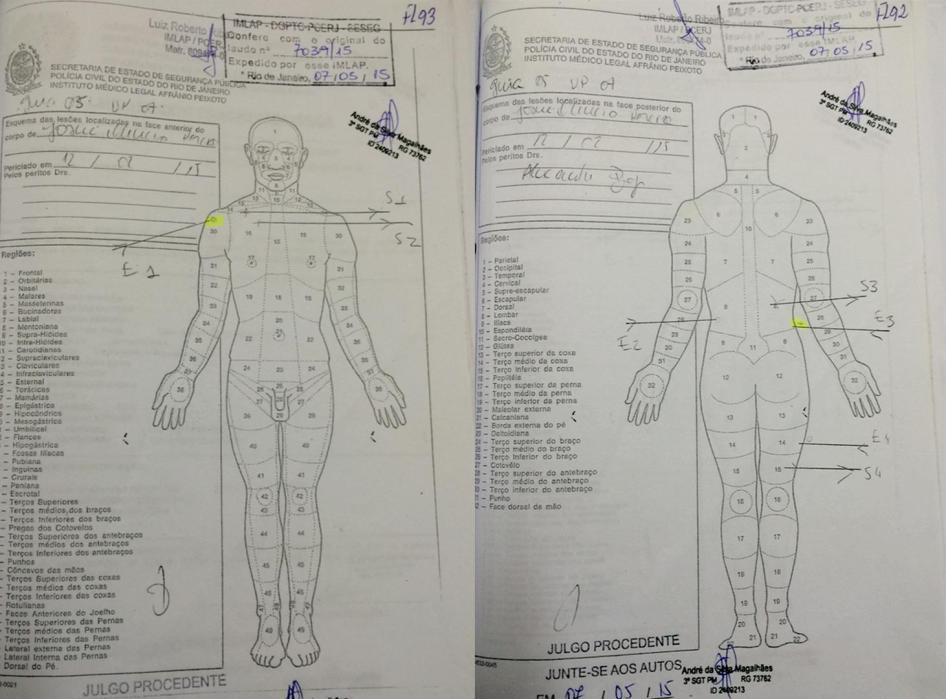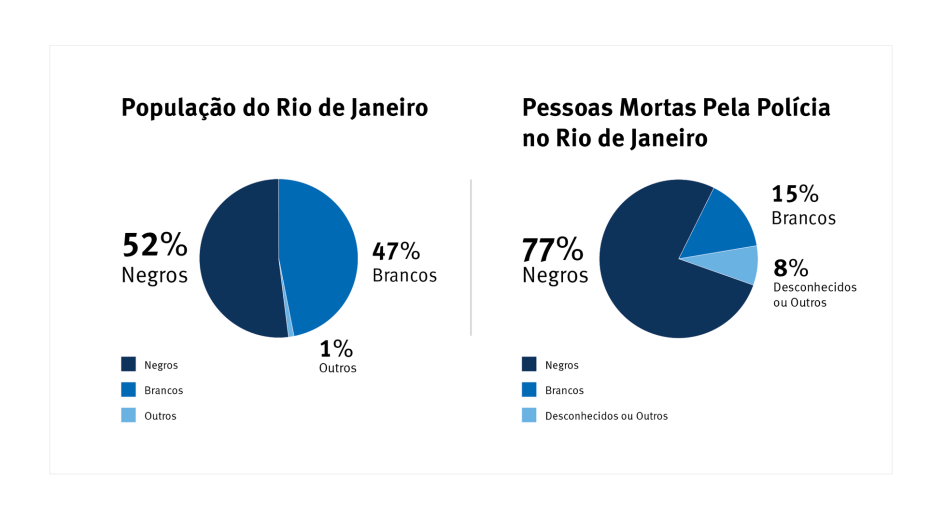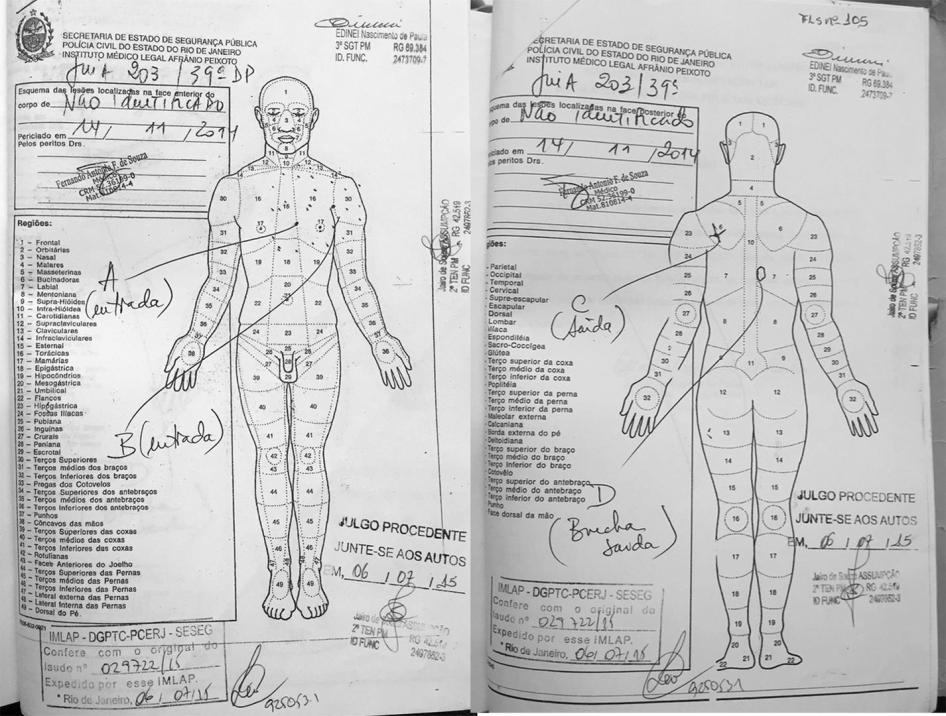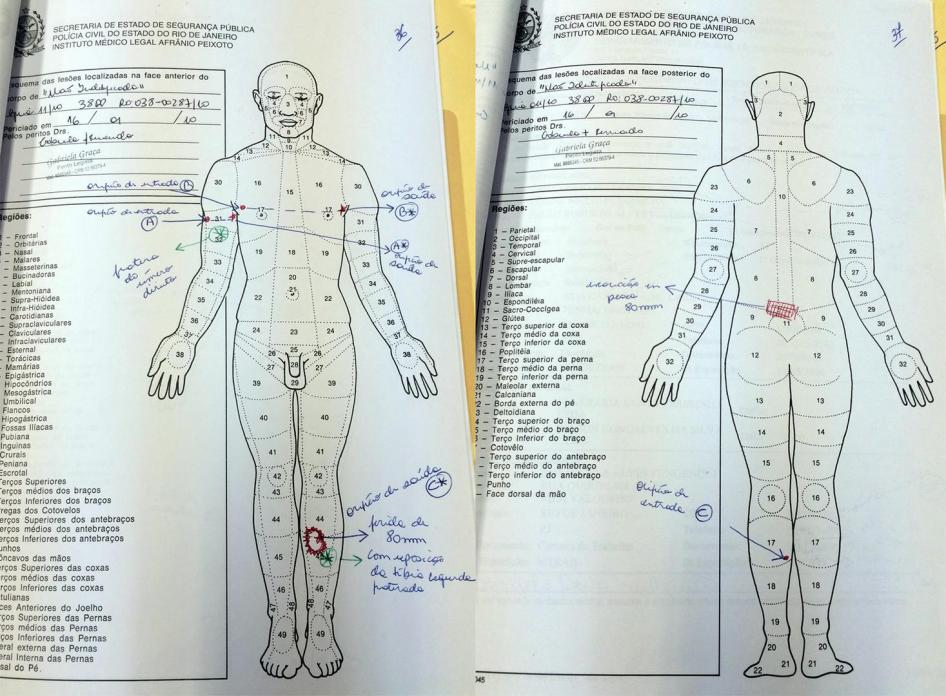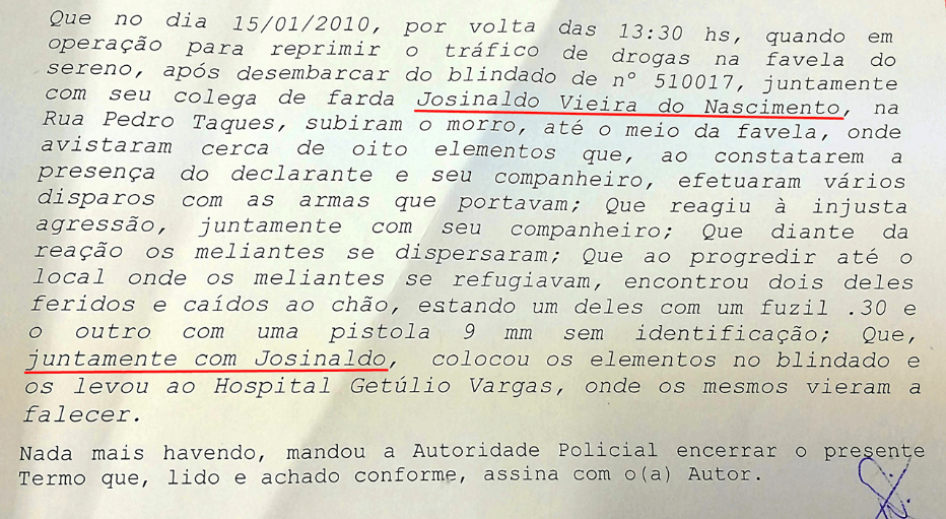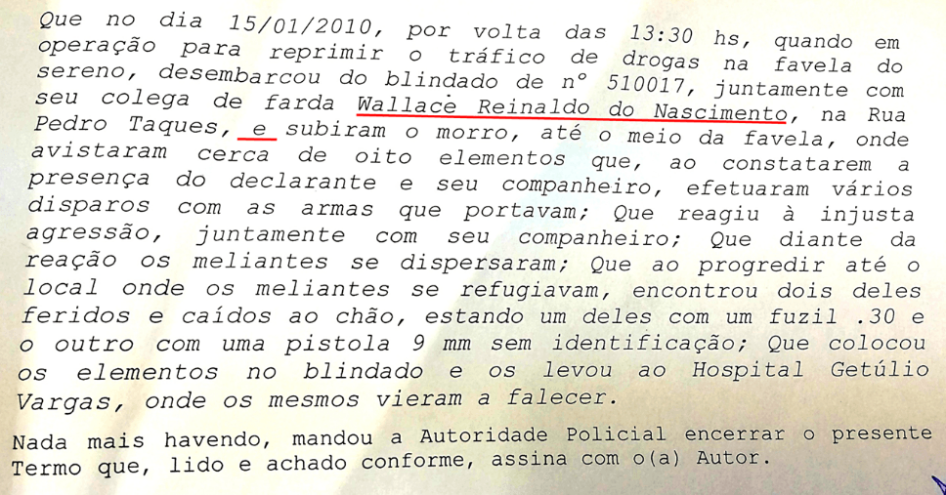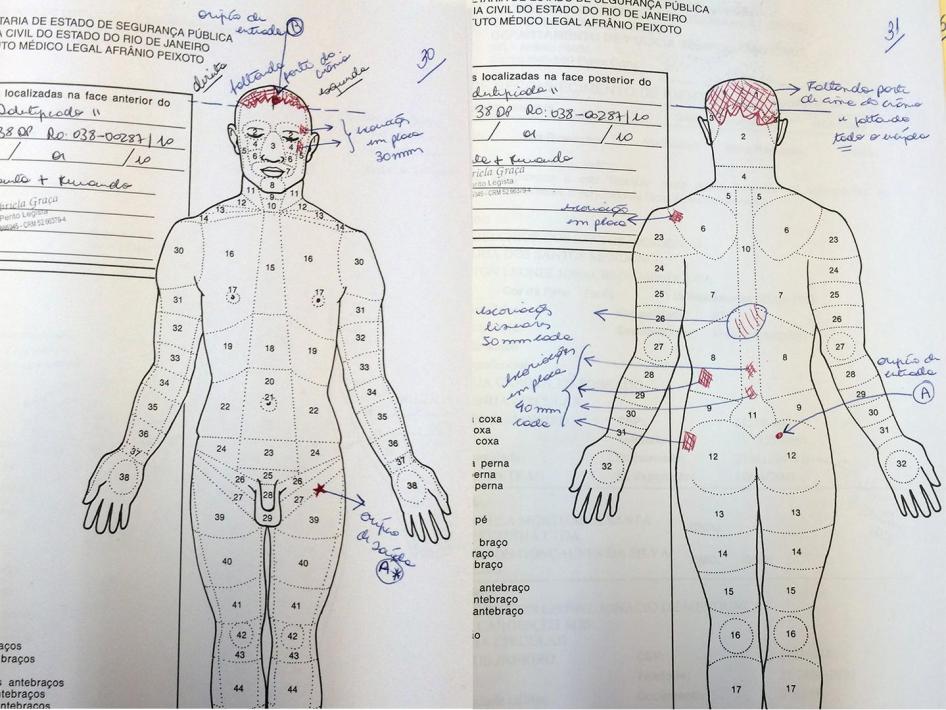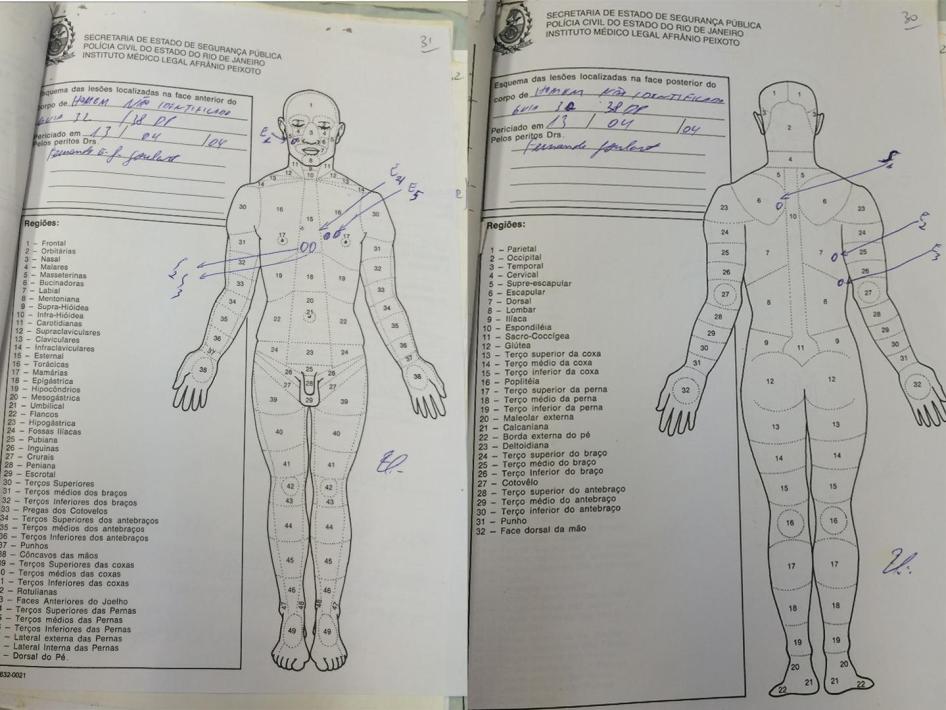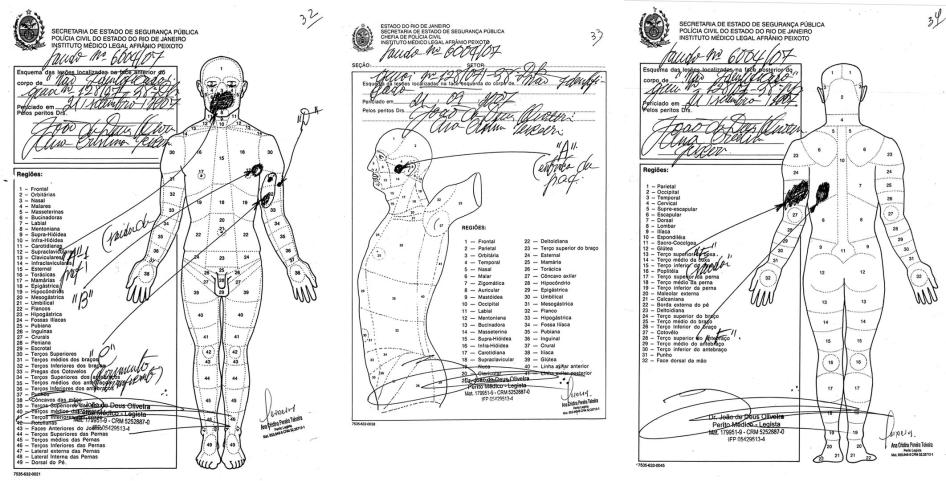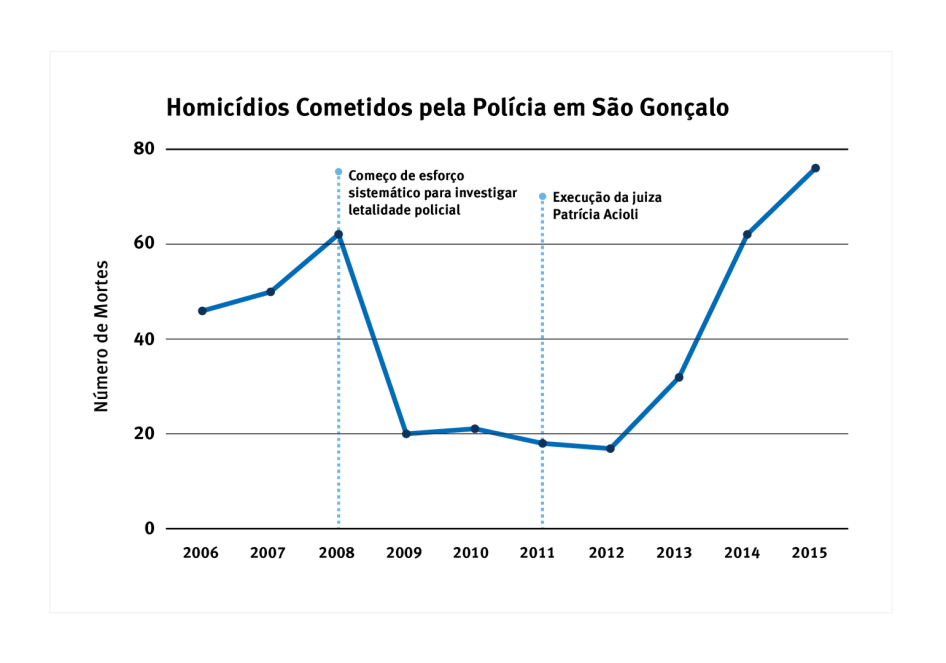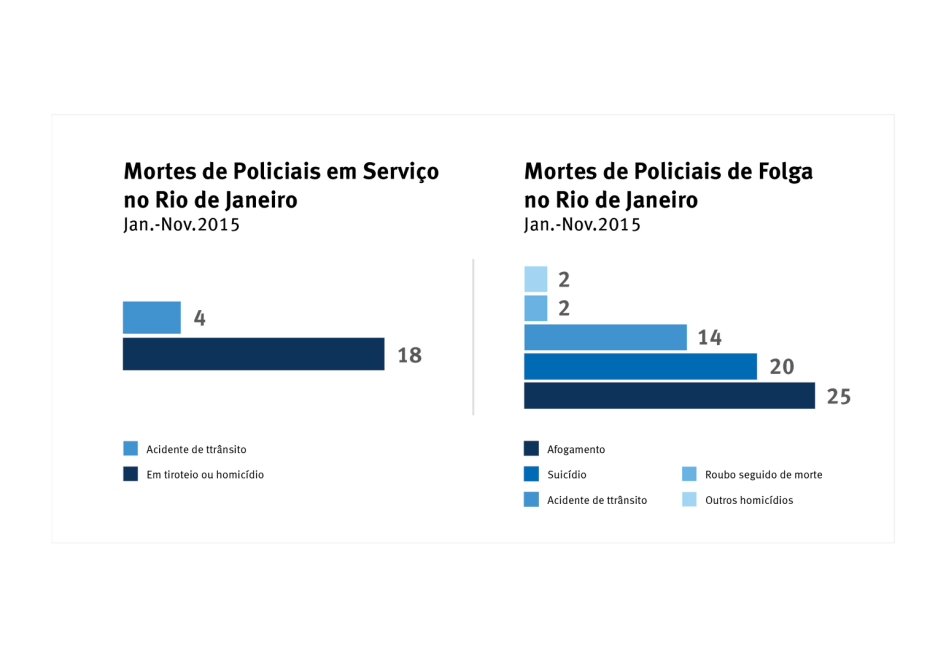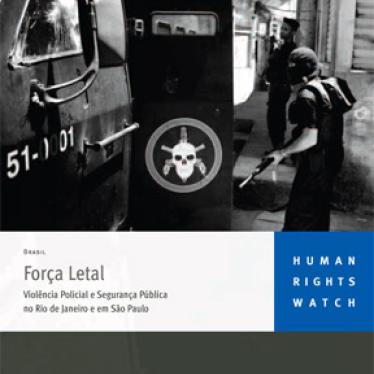Sumário
A polícia do estado do Rio de Janeiro matou mais de 8.000 pessoas na última década, incluindo pelo menos 645 em 2015. Um quinto de todos os homicídios registrados na cidade do Rio de Janeiro no ano passado foi cometido por policiais. Três quartos dos mortos pela polícia eram negros.
A polícia do Rio reporta praticamente todos esses homicídios como atos de legítima defesa em resposta a ataques perpetrados por supostos criminosos. Uma vez que os policiais do Rio frequentemente enfrentam um risco real de violência por parte de facções criminosas fortemente armadas, muitas dessas mortes provavelmente resultam do uso legítimo de força.
Entretanto, muitas outras mortes são, na verdade, execuções extrajudiciais. Policiais atiram em pessoas desarmadas. Policiais atiram em pessoas pelas costas quando tentam fugir. Policiais executam pessoas detidas com tiros na cabeça.
Policiais envolvidos em casos de uso ilegal da força letal frequentemente buscam acobertar seu comportamento criminoso. Eles ameaçam testemunhas. Eles colocam armas nas mãos das vítimas. Eles removem cadáveres da cena do crime e os levam ao hospital, alegando que tentavam “socorrê-los”.
A Human Rights Watch documentou esse padrão de homicídios e acobertamentos por parte da polícia no relatório Força Letal, de 2009, que expôs 35 casos nos quais havia provas críveis de que policiais haviam tentado encobrir casos de uso ilegal da força letal. Desde então, documentamos mais 29 casos, incluindo 12 que ocorreram nos últimos dois anos. Nesses 64 casos, 116 pessoas perderam suas vidas, incluindo ao menos 24 com até 18 anos.
Os 64 casos refletem um problema muito mais amplo, segundo autoridades do sistema de justiça local, que disseram à Human Rights Watch que muitos dos "confrontos" relatados pela polícia nos últimos anos no estado foram de fato execuções extrajudiciais. Estatísticas oficiais reforçam essa conclusão.
Para compreender as causas e consequências dessas mortes, a Human Rights Watch conduziu entrevistas aprofundadas com mais de 30 policiais, a maioria deles com atuação em favelas com alto número de confrontos reportados. Muitos deles contaram sobre suas experiências com o uso de força letal e dois descreveram sua própria participação em execuções extrajudiciais.
Execuções extrajudiciais cometidas pela polícia causam um grande impacto não só nas vítimas e em suas famílias, como também na própria polícia. Essas mortes fomentam ciclos de violência que colocam em risco as vidas dos policiais que atuam em áreas com altos índices de criminalidade, destroem seu relacionamento com as comunidades e contribuem para elevados níveis de estresse psicológico, prejudicando sua capacidade de fazer bem o seu trabalho.
Policiais responsáveis por casos de uso ilegal da força letal e acobertamentos no estado do Rio de Janeiro raramente são levados à justiça. O Procurador-Geral de Justiça, Marfan Martins Vieira, disse à Human Rights Watch acreditar que grande parte dos confrontos reportados tenham sido “simulados”, mas admitiu que o Ministério Público apresentou denúncias em “muito poucos” casos. Ele culpou a má qualidade das investigações conduzidas pela polícia civil por essa falha.
É verdade que, de acordo com a legislação brasileira, a polícia civil inicia as investigações criminais e, também, que essas investigações têm sido lamentavelmente inadequadas. Entretanto, a responsabilidade de acabar com a impunidade existente nesses casos é, em última instância, do Ministério Público do estado do Rio de Janeiro, que tem competência constitucional para fiscalizar o trabalho da polícia civil, além de autoridade para conduzir suas próprias investigações.
Após a publicação do relatório Força Letal em 2009, a Human Rights Watch apresentou suas constatações e recomendações em diversas reuniões com autoridades do estado do Rio de Janeiro, incluindo o governador, o secretário de segurança pública e o procurador-geral de Justiça. Nos últimos anos, as autoridades implementaram várias das nossas recomendações como parte de um esforço muito mais amplo para melhorar o policiamento no estado.
Esse esforço mais amplo –cujo projeto principal é a implementação de um modelo de policiamento comunitário em áreas com alto índice de criminalidade– se mostrou, de início, muito promissor. O número de homicídios cometidos pela polícia e de homicídios como um todo caiu significativamente entre 2009 e 2013. Porém, esse esforço parece estar desmoronando, em grande parte porque o estado não atacou o fator talvez mais importante na perpetuação das execuções pela polícia: a impunidade.
Recentemente, as autoridades fluminenses promoveram diversas ações para lidar de forma mais eficiente com os homicídios cometidos pela polícia, incluindo, principalmente, a criação de um grupo especial de promotores de justiça cujo enfoque de atuação são os abusos cometidos pela polícia. Essas iniciativas podem ter um impacto importante, desde que o procurador-geral de justiça e o secretário de segurança pública do estado levem a cabo medidas adicionais –como as sugeridas neste relatório– para reforçarem as ações. Se, ao invés disso, permitirem que essas iniciativas se desenvolvam sem o necessário apoio, será muito difícil para o estado do Rio de Janeiro progredir na redução dos casos de uso ilegal da força letal pela polícia e melhorar a segurança pública.
Relatos de Policiais sobre Execuções Extrajudiciais
As entrevistas conduzidas pela Human Rights Watch com mais de 30 policiais revelam o descaso rotineiro para com os padrões internacionais, as leis brasileiras e os regulamentos internos da polícia que regem o uso de força letal. Alguns policiais atribuíram o uso excessivo de força letal a uma “cultura de combate” amplamente disseminada na polícia militar e à corrupção dentro dos batalhões.
Diversos policiais militares relataram seu próprio envolvimento em episódios violentos, incluindo dois que admitiram ter participado diretamente de execuções. Um deles descreveu sua participação em uma operação na qual outro policial executou um indivíduo suspeito de ser traficante de drogas, que estava ferido no chão. O policial disse que temia ser morto se denunciasse o ocorrido. O outro policial contou sobre um incidente em que ele e outros policiais armaram uma emboscada contra suspeitos de fazerem parte de uma facção criminosa, atirando neles enquanto fugiam de outros policiais. Em seguida, colocaram armas nos dois homens deitados na rua, um morto e outro que agonizava. Ele também contou ter participado de sessões de tortura e de um sequestro, e ter recebido dinheiro de criminosos.
Execuções Extrajudiciais Cometidas pela Polícia e Acobertamento dos Casos
A Human Rights Watch encontrou provas substanciais e críveis de que muitas das pessoas mortas em supostos confrontos com policiais foram, na realidade, vítimas de execuções extrajudiciais.
Na maioria dos 64 casos examinados pela Human Rights Watch, a versão dos policiais sobre o confronto parece incompatível com os laudos das autópsias e demais exames periciais. Em pelo menos 20 casos, os laudos descrevem feridas condizentes com tiros à queima-roupa. Em outros casos, os depoimentos de testemunhas ou outras evidências indicam que não houve confronto.
Em junho de 2015, por exemplo, a polícia militar disse ter ferido um homem em um confronto no Morro da Coroa e o levado para o hospital, onde veio a falecer. Porém, a autópsia mostrou que ele havia sido baleado sete vezes, sendo pelo menos uma vez à queima-roupa. Uma testemunha que estava no local disse ter visto a vítima ferida, ainda viva, deitada no chão, e ter ouvido uma única rajada de tiros logo depois que a polícia chegou ao local. Por fim, relatou ter visto a polícia levar embora o corpo da vítima três horas depois.
Embora seja impossível determinar o número exato de execuções extrajudiciais cometidas pela polícia no estado do Rio de Janeiro, dados estatísticos oficiais são compatíveis com a visão das autoridades do sistema de justiça de que a prática é generalizada. O elevado número de homicídios cometidos pela polícia — mais de 8,000 desde 2006 — torna-se ainda mais dramático quando contrastado com o número comparativamente baixo de civis feridos pela polícia e de óbitos de policiais nos mesmos episódios ou áreas de operação. Esta disparidade sugere que em muitos casos a polícia registra mortes como resultado de confrontos que nunca ocorreram.
Em 2015, para cada policial morto em serviço no Rio de Janeiro, a polícia matou 24.8 pessoas, mais que o dobro que na da África do Sul e uma média três vezes maior que a dos EUA. Essa diferença é ainda maior nas 10 Áreas Integradas de Segurança Pública (AISP) –áreas geográficas de policiamento em que está dividido o estado; são 39 no total– com mais registros de “confrontos”. Nessas áreas, a polícia matou 483 pessoas em 2015, enquanto sofreu 15 óbitos de policiais. Além disso, a polícia do Rio matou cinco pessoas para cada uma que feriu de 2013 a 2015, o oposto do que se esperaria em “confrontos”.
Nos 64 casos que documentamos, os policiais procuraram acobertar a natureza criminosa das mortes. Uma técnica comum é remover o cadáver da vítima da cena do crime e levá-lo a um hospital, alegando a tentativa de “socorrer” a vítima. Esses falsos “socorros” servem para destruir provas na cena do crime ao mesmo tempo em que simulam um ato de boa-fé por parte dos policiais.
Em alguns casos, policiais forjaram provas ao colocarem armas nas mãos das vítimas e as dispararem, ou, ainda, ao deixarem drogas junto aos seus corpos. Alguns policiais ameaçaram testemunhas para desencorajar depoimentos. Em um caso ocorrido em julho de 2011, por exemplo, policiais torturaram e mataram o filho de 14 anos da testemunha de uma execução anterior, ocorrida na favela do Salgueiro, com o objetivo de intimidá-la, de acordo com promotores de justiça.
Impunidade por Execuções Extrajudiciais e Acobertamentos
Apenas oito dos 64 casos examinados pela Human Rights Watch foram a julgamento, e apenas quatro resultaram na condenação dos policiais envolvidos. Em 36 dos 64 casos, promotores de justiça sequer apresentaram denúncias, apesar de evidências críveis de que a polícia havia acobertado um caso de uso ilegal da força.
Todos os membros do sistema de justiça que falaram com a Human Rights Watch – incluindo o procurador-geral de justiça – disseram que policiais envolvidos em casos de uso ilegal da força letal raramente são responsabilizados. Dados oficiais sustentam esse entendimento, embora a falta de informações atualizadas e confiáveis torne difícil determinar com precisão a escala dessa impunidade. O Ministério Público disse à Human Rights Watch que apresentou denúncia em apenas quatro –ou 0,1 por cento– dos 3.441 casos de homicídios cometidos pela polícia que foram registrados entre 2010 e 2015 (apesar de nós mesmos termos documentado 15 casos desse período em que promotores apresentaram denúncias). O estudo de âmbito estadual mais recente sobre o número de denúncias contra policiais pelo uso ilegal da força letal, coordenado por Michel Misse, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), revelou que, até 2007, promotores de justiça haviam denunciado menos de 1 por cento de todos casos de homicídios cometidos pela polícia no ano de 2005.
A polícia civil frequentemente não conduz investigações adequadas sobre as mortes causadas pela polícia, desconsiderando elementos básicos de uma investigação sobre um homicídio. Em 52 dos 64 casos examinados não havia registro algum de que peritos analisaram a cena do crime. Muitas vezes, a polícia civil não interroga todos os policiais envolvidos no caso, não procura e colhe depoimentos de testemunhas que não sejam da polícia e não realiza exames periciais básicos.
A Constituição Federal garante ao Ministério Público competência para exercer o “controle externo” sobre a atividade policial. Isso inclui assegurar que a polícia civil conduza investigações minuciosas e profissionais quando há evidências de que policiais cometeram crimes. Os promotores de justiça possuem diversas ferramentas a sua disposição para garantir que a polícia civil faça investigações mais aprofundadas, como a pressão institucional, a comunicação à Corregedoria da Polícia Civil para instauração de ações disciplinares contra policiais que não conduzem de forma apropriada ou impedem as investigações, e até mesmo, em casos extremos, a denúncia criminal por crime de prevaricação. Apesar disso, o Ministério Público do Rio não tem utilizado essas ferramentas de forma sistemática, não cumprindo assim sua responsabilidade constitucional. Quando a polícia civil não realiza investigações adequadas, o Ministério Público estadual ainda tem poder para conduzir suas próprias investigações de maneira independente, coletar provas e escutar testemunhas. Porém, o Ministério Público raramente tem usado essa prerrogativa para investigar homicídios cometidos pela polícia.
Promover a responsabilização criminal de policias que cometem execuções extrajudiciais no Rio de Janeiro é possível, conforme se demonstrou em São Gonçalo – a segunda maior cidade do estado – entre 2008 e 2011, quando uma juíza, um promotor de justiça e policiais civis uniram esforços para lidar com a questão. Os promotores de justiça denunciaram 107 policiais militares – cerca de 15 por cento da tropa do batalhão da polícia militar em São Gonçalo na época. O número de homicídios cometidos pela polícia caiu 70 por cento em três anos. Alguns policiais diziam que essas medidas impediriam o trabalho policial e resultariam em aumento da criminalidade, mas o número de roubos e homicídios em geral também caiu em São Gonçalo. O progresso foi interrompido com o homicídio da juíza por policiais que eram investigados. Com a impunidade de volta, o número de homicídios cometidos pela polícia voltou a subir e agora é mais alto do que em 2008.
Impacto das Execuções Extrajudiciais na Segurança Pública
Trabalhar como policial militar no Rio pode ser extremamente perigoso, em grande parte devido às facções criminosas violentas e fortemente armadas que operam nas comunidades mais pobres da cidade. Policiais entrevistados pela Human Rights Watch descreveram como têm de enfrentar esses criminosos com veículos e armas sem boa manutenção, e sem receber treinamento adequado, deixando-os despreparados para agir corretamente em situações em que vidas estão em risco.
Execuções extrajudiciais cometidas por colegas policiais aumentam ainda mais os riscos de uma profissão que já é perigosa por natureza. Um dos motivos para isso, mencionado pelos policiais entrevistados, é que os criminosos ficam menos dispostos a se renderem pacificamente à polícia quando são encurralados se acreditam que serão executados ao se renderem ou assim que estiverem sob custódia policial.
O uso ilegal da força letal pela polícia também contribui para aumentar a sua impopularidade, o que pode levar criminosos a matarem policiais sempre que puderem, inclusive aqueles fora de serviço. Vários policiais contaram à Human Rights Watch que evitam usar o transporte público e não carregam sua identificação de policial quando estão fora de serviço. O medo de que criminosos os identifiquem como policiais durante um roubo, ainda que estejam sem farda, e de serem consequentemente executados faz com que reajam rapidamente, mesmo que enfrentem sozinhos vários criminosos. Alguns policiais são mortos nos tiroteios que se seguem, o que explica o porquê uma em cada seis pessoas mortas em virtude de latrocínios no Rio de Janeiro é um policial fora de serviço.
O uso ilegal da força por policiais tem outro impacto ainda mais direto na polícia: os colegas daqueles que cometem execuções têm que escolher entre ficarem calados e até participarem do acobertamento (violando assim a lei) ou denunciarem a ação e enfrentarem represálias que podem inclusive ser fatais.
Dois policiais contaram à Human Rights Watch que se sentiram pressionados por seus superiores a usarem a força letal de forma ilegal. O Código Disciplinar da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro oferece poucas opções a esses policiais além de cederem à pressão, caso essa seja feita como uma ordem: não existe um dispositivo que garanta proteção a um policial militar que se recuse a acatar ordens ilegais.
O que mais desencoraja denúncias ou objeções ao comportamento criminoso de colegas policiais é o medo que os potenciais delatores têm de serem mortos por aqueles que estão envolvidos em ações ilegais. Vários policiais militares disseram à Human Rights Watch que não denunciariam colegas por medo de serem mortos ou terem suas famílias atacadas.
A participação em casos de uso ilegal da força letal ou acobertamentos sem que haja punição pode também causar um impacto perigoso na conduta geral dos policiais. Um policial que consegue racionalizar suas próprias infrações pode mais facilmente agir de maneira incorreta novamente no futuro. Esse indivíduo também é mais passível de se envolver com corrupção e outros crimes, segundo vários policiais entrevistados.
Diversos estudos concluem que policiais militares fluminenses sofrem com níveis altíssimos de estresse. Apesar disso, a assistência psicológica para policiais militares é muito limitada. Existem apenas 70 psicólogos para os 48.000 membros da polícia militar no estado do Rio de Janeiro, uma média de um para cada 686 policiais, sendo que não há nenhum psiquiatra. Poucos policiais recebem assistência psicológica após terem participado de um tiroteio.
Abusos por parte da polícia também prejudicam a segurança pública ao contraporem a comunidade e a polícia. As atuais dificuldades enfrentadas pelas Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) –unidades da polícia militar instaladas em favelas– demonstram que a falta de confiança de ambas as partes abre espaço para o aumento da violência. As UPPs inicialmente trouxeram a diminuição da criminalidade e dos homicídios cometidos pela polícia, mas casos de uso ilegal da força e outros abusos por parte da polícia desempenham papel centram no desmoronamento do projeto.
Principais Recomendações
As autoridades do estado do Rio de Janeiro adotaram recentemente medidas importantes para solucionar o problema dos homicídios cometidos pela polícia. Além de criarem um grupo especial de promotores de justiça dentro do Ministério Público do estado que se encarrega especificamente de abusos cometidos pela polícia e nas prisões, o GAESP, as três delegacias de homicídios da polícia civil começaram a investigar uma parte dos homicídios cometidos pela polícia, e a polícia militar instituiu um programa piloto para equipar policiais com câmeras acopladas aos seus coletes.
Essas medidas, ainda que bem-vindas, estão muito aquém do necessário para acabar com a impunidade para execuções extrajudiciais e acobertamentos, e quebrar o ciclo de violência que tem impedido a polícia fluminense de proteger adequadamente as comunidades a que serve.
Acabar com a impunidade para o uso ilegal da força letal pela polícia e os acobertamentos
O Ministério Público do estado do Rio de Janeiro deve:
- Alocar mais promotor es de justiça no GAESP;
- Providenciar apoio técnico por meio de peritos criminais ao GAESP;
- Garantir que a polícia civil se comprometa a informar o GAESP sobre homicídios cometidos por policiais dentro de 24 horas;
- Permitir que os promotor es de justiça do GAESP atuem na investigação de todos os homicídios cometidos pela polícia no estado;
- Instruir o GAESP a visitar os locais onde os homicídios cometidos pela polícia ocorreram;
- Instruir o GAESP a promover suas próprias investigaçõese acobertamentos de casos de uso ilegal da força letal pela polícia;
- Instruir o GAESP a exercer fiscalização efetiva sobre os inquéritos conduzidos pela polícia civil.
A polícia civil deve:
- Melhorar a qualidade das investigações nas delegacias de homicídios
- Alertar imediatamente o GAESP sobre homicídios cometidos pela polícia;
- Investigar os indícios de acobertamento de casos de uso ilegal da força por parte da polícia;
- Transferir às delegacias de homicídios a competência e os recursos necessários para investigar todos os homicídios cometidos pela polícia no estado.
A polícia militar deve:
- Implementar o projeto de acoplar câmaras ao colete dos policiais em todo o estado;
- Estabelecer protocolos e procedimentos operacionais para o projeto de câmeras acopladas aos coletes dos policiais que promovam transparência, ao mesmo tempo em que protegem a privacidade.
O Congresso Nacional deve:
- Aprovar o Projeto de Lei nº 4471/2012, que inclui medidas para melhorar as investigações de homicídios cometidos pela polícia em todo o país
Melhorar as condições de trabalho de policiais militares
A polícia militar deve:
- Oferecer apoio psicológico para policiais após vivenciarem confrontos;
- Identificar e minimizar outros fatores que causam estresse desnecessário aos policiais.
Metodologia
Esse relatório é baseado principalmente em 88 entrevistas conduzidas no estado do Rio de Janeiro entre novembro de 2015 e maio de 2016[1]. Foram entrevistados 34 policiais civis e militares da ativa ou da reserva, bem como familiares de vítimas, promotores de justiça, peritos criminais, defensores públicos, acadêmicos e membros de organizações não governamentais.
Examinamos também 64 casos com provas críveis de que a polícia procurou acobertar o uso ilegal da força letal. Os casos incluem 35 incidentes (a maioria de 2006 até 2009) originalmente documentados pela Human Rights Watch no relatório Força Letal [2], de 2009, e outros 29 casos que chegaram ao nosso conhecimento desde então, quase todos ocorridos a partir de 2010, incluindo 12 dos últimos dois anos.
Na grande maioria dos casos, obtivemos os autos dos procedimentos investigatórios —incluindo depoimentos de policiais e testemunhas, além de laudos de autópsia e outros exames periciais — com a colaboração de promotores de justiça, defensores públicos e advogados de defesa. Em alguns casos, entrevistamos também os familiares das vítimas e testemunhas, bem como policiais civis que investigaram os casos e policiais militares com conhecimento direto dos fatos.
Ademais, analisamos dados oficiais do estado, alguns disponíveis ao público e outros que o Instituto de Segurança Pública, autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro, forneceu à Human Rights Watch após pedidos formais. Revisamos também estudos acadêmicos, relatórios e outros documentos.
A maioria dos policiais militares de baixa patente que entrevistamos pediu que não divulgássemos seus nomes por medo de sofrerem ações disciplinares por parte de seus superiores em função de seus comentários. Quatro policiais civis e militares que falaram sobre atividades ilegais dentro da corporação, incluindo casos de corrupção, tortura e execuções, pediram que não divulgássemos suas identidades por medo de serem atacados ou mortos por outros policiais.
Também mantivemos em sigilo os nomes de algumas vítimas e moradores das favelas por motivos de segurança. Indicamos nas notas de rodapé quando há uso de nome fictício.
Todos os entrevistados foram informados sobre o propósito das entrevistas e que estas poderiam ser utilizadas publicamente. Não foram oferecidos ou fornecidos quaisquer incentivos aos entrevistados. Todas as entrevistas foram feitas em português.
Durante a fase de pesquisa, visitamos três Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), um batalhão da polícia militar e duas delegacias de polícia civil na região metropolitana do Rio de Janeiro.
I. Relatos de Policiais sobre Execuções Extrajudiciais
As entrevistas feitas pela Human Rights Watch com mais de 30 policiais do Rio de Janeiro, junto com os 64 casos que estudamos, revelam o descaso rotineiro em relação aos padrões internacionais, à legislação brasileira e aos regulamentos internos da polícia militar que regem o uso de força letal. Alguns policiais atribuem o uso excessivo de força letal à “cultura de combate” altamente disseminada dentro da polícia militar e à corrupção.
Vários policiais militares relataram seu próprio envolvimento em episódios violentos. Dois policiais militares que foram entrevistados separadamente pela Human Rights Watch admitiram ter participado de execuções. Ambos descreveram o uso ilegal da força letal como prática rotineira nos batalhões em que trabalharam. Eles também detalharam a corrupção generalizada, sendo que um deles admitiu ter se beneficiado dessa situação, e acusaram alguns oficiais de aceitarem pagamentos de traficantes de drogas.
Ambos disseram ter medo de serem mortos se identificados. A Human Rights Watch manteve suas identidades em sigilo, assim como alguns detalhes sobre as situações que descreveram, de forma a preservar o anonimato. Ambos trabalhavam como oficiais de patente média na época das entrevistas, que foram conduzidas no final de 2015 e no começo de 2016, respectivamente.
Danilo
O primeiro posto de Danilo depois que saiu da academia militar foi em um batalhão em uma área com altos níveis de criminalidade, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Danilo se formou na última década. (Mantivemos a data exata em sigilo para preservar seu anonimato).
Segundo ele, matar suspeitos de serem membros de facções criminosas era uma rotina no batalhão[3]. “Matar bandido é o que era exigido como bom resultado por meus superiores”, ele disse. Por exemplo, Danilo disse que testemunhou um oficial superior repreender um tenente porque ele havia detido um homem em posse de um fuzil ao invés de tê-lo matado. “Não existe vivo com fuzil”, o oficial disse ao tenente.
Danilo disse que o objetivo de algumas operações das quais participou era matar supostos traficantes de drogas porque os oficiais acreditavam que essas ações eram necessárias para combater o crime, enquanto em outros casos, policiais executavam pessoas para avançar suas próprias atividades corruptas. Danilo disse que alguns policiais sequestravam traficantes, recebiam o resgate e depois os executavam. Alguns policiais executavam pessoas para serem conhecidos como “assassinos” entre os traficantes, podendo assim extorquir mais dinheiro deles.
Em outros casos, segundo Danilo, os policiais aceitavam dinheiro de traficantes em troca de não incomodá-los na manutenção de seus negócios ilegais. Normalmente, aqueles que estão diretamente envolvidos com traficantes de drogas são praças, ao passo que os oficiais “espremem” os praças para receberem uma parte do dinheiro. Ele disse que, toda semana, seu batalhão recebia por volta de 120.000 reais (aproximadamente U$ 34.000) de traficantes de drogas que operavam em dezenas de favelas. “O dinheiro era pago para não entrarmos nas favelas, ou para avisarmos antes de entrar”, disse ele. Esse acordo é tão comum no Rio de Janeiro que tem até nome: “o arrego”.
Danilo admitiu ter participado de diversas operações nas quais a polícia executou suspeitos de facções criminosas que estavam feridos, e descreveu uma delas para a Human Rights Watch. O caso ocorreu nos últimos três anos, quando um grupo de policiais entrou em uma favela no norte do Rio de Janeiro. O principal motivo da operação era executar traficantes de drogas e confiscar suas armas, disse Danilo. Ele explicou que: “O objetivo foi matar para produzir ocorrência. Nesse dia, foi para mostrar serviço, para justificar os índices altos de roubo e apreender armas para mostrar que o crime estava forte na área”. O batalhão estava sob pressão para reduzir esses altos índices, explicou ele.
Enquanto a maioria dos policiais deixou a favela após a operação, um pequeno grupo ficou para trás, escondido em uma casa – uma estratégia chamada pela polícia de “Tróia”, em referência à famosa artimanha utilizada na Grécia Antiga. Eles escolheram aquela casa em particular porque tinha uma vista desobstruída para uma “boca de fumo”, ponto de venda de drogas. Eles esperavam que alguém aparecesse com um fuzil, mas como estava ficando tarde, resolveram atacar três homens que tinham revólveres e estavam rodeados por usuários de drogas. Sem nenhum aviso, os policiais, incluindo Danilo, atiraram com seus fuzis. Eles mataram um dos homens armados e outro caiu ferido no chão. Os policiais se aproximaram do homem ferido e um deles o executou, Danilo disse.
“Eu não denunciei por medo até de morrer, porque essas pessoas não têm escrúpulos”, disse ele sobre seus colegas policiais. Ele também temia ser morto por policiais corruptos ao não levar dinheiro do tráfico de drogas para seus superiores. Em determinado momento, ele conseguiu a transferência para outro batalhão, mas seu medo persiste.
No Rio de Janeiro, disse Danilo, “o bom policial tem medo”.
João
João é um policial militar com experiência em vários batalhões da região metropolitana do Rio de Janeiro[4]. Disse ter ingressado na polícia porque ela oferecia bons planos de carreira e aposentadoria, e um salário adequado.
Durante um tempo, João foi membro de uma unidade tática dentro de um batalhão, o Grupamento de Ações Táticas (GAT). “Para se manter lá, tem que matar, apreender armas”, disse ele. João descreveu para a Human Rights Watch diversas operações cujo objetivo não era deter suspeitos, mas sim executá-los, incluindo uma na qual foi utilizada a estratégia de “Tróia”, descrita por Danilo no depoimento anterior. Em uma operação nos últimos três anos, a guarnição de João usou um carro particular para se aproximar de uma favela. Deitaram na mata em uma área que sabiam ser uma rota de fuga para supostos traficantes de droga, enquanto outro grupo de policiais entrou na favela pelo lado oposto. Pouco tempo depois, dois homens fugiram em sua direção. Os policiais abriram fogo, matando um imediatamente, enquanto outro caiu no chão com diversos ferimentos das balas.
Um dos policiais foi buscar armas para colocar junto aos suspeitos (João disse não saber onde o policial conseguiu as armas). Enquanto isso, o resto dos policiais aguardou, sem prestar socorro ao homem ferido. “Queríamos que ele morresse lá”, João admitiu. Assim que conseguiram as armas, eles as colocaram nas mãos dos suspeitos e deram alguns tiros. Como os moradores começaram a se aglomerar em volta deles, os policiais decidiram ir embora. Eles jogaram o homem ferido no banco de trás da viatura e o homem morto em cima dele. Eles chegaram ao hospital por volta de uma hora depois do ocorrido, disse ele, quando poderiam ter chegado lá em vinte minutos se tivessem ido embora imediatamente. O homem morreu no hospital.
Os aproximadamente oito oficiais que participaram dessa operação foram a uma delegacia da polícia civil em seguida, mas apenas dois prestaram depoimento. Esse era o procedimento padrão quando cometiam execuções extrajudiciais: apenas dois dos policiais reportavam a participação no confronto. Eles revezavam as duplas para que ninguém acumulasse no histórico homicídios que pudessem gerar suspeitas. “A polícia civil não pede depoimento de todo mundo que disparou”, disse João. Os dois policiais disseram à polícia civil que foram atacados quando entraram na favela e revidaram em legítima defesa, a mesma história usada para todas as execuções, João explicou.
Em outra operação em uma favela, em 2014, João e alguns outros policiais entraram em uma casa em busca de “três ou quatro” jovens que haviam fugido quando viram a polícia. João acha que eles tinham em média 18 anos de idade. “Eles eram muito novos”, ele disse. Havia duas “meninas” com eles, João contou. Os policiais encontraram duas armas dentro da casa e acreditavam que poderiam haver outras. João contou à Human Rights Watch que para fazer com que os jovens falassem, eles os torturaram. (Eles não torturaram as meninas). Eles os levaram, um a um, para outro quarto e colocaram um saco de gelo vazio sobre suas cabeças para asfixiá-los. (Um saco plástico normal não poderia ser usado porque as vítimas podem rasgá-lo com os dentes, João explicou). Os policiais os chutaram nas costelas, lhes deram socos e espirraram spray de pimenta em seus rostos. “Não usamos choque porque não estava disponível”, João disse. Nenhuma das vítimas revelou a existência de mais armas e depois de 20 ou 30 minutos de tortura, os policiais os levaram à delegacia, onde foram indiciados pela posse das duas armas. “Não tínhamos medo de que eles iam denunciar porque não deixamos marca e ia ser a palavra deles contra a nossa. Eles estavam felizes de ter saído vivos de lá”, João disse.
João descreveu outra sessão de tortura, envolvendo um homem suspeito de ter matado uma mulher por ela ter sido simpática com a polícia durante uma operação policial em uma favela. Os policiais encontraram o homem em sua casa e começaram a espancá-lo rigorosamente até que ele “não tinha força nem para gritar”, João disse. “A tortura não era para obter informação”, mas sim para puni-lo, João disse. A sessão durou cerca de uma hora.
Pode parecer que João fez justiça com as próprias mãos, acreditando que sua missão era pôr fim à criminalidade, mas a verdade é bem mais complexa. Naquela época, João recebia propina de traficantes de drogas. O “arrego” – ou pagamentos –chegava regularmente nos dormitórios do batalhão onde ele trabalhava. Ele disse que os traficantes de droga pagavam mais de 2.000 reais por dia (cerca de US$600) para cada um dos policiais que estivessem de plantão durante o finalde semana. Os pagamentos eram feitos em troca de os policiais não conduzirem operações nas favelas. De dois comandantes que estiveram no comando do batalhão sucessivamente enquanto ele trabalhava lá, um aceitava dinheiro dos traficantes e o outro não, ele disse.
João também contou à Human Rights Watch que um membro de uma quadrilha de tráfico de drogas o abordou para ajudá-lo a trair seu chefe. O homem queria enriquecer e ascender no mundo do crime. João, junto com outros policiais, concordou em sequestrar o chefe do tráfico. Eles pararam o carro no qual o traficante estava e o levaram para uma área fora do alcance das câmeras de segurança pública. Eles receberam um resgate em dinheiro e joias, que repartiram entre aqueles que participaram do plano, incluindo o membro da quadrilha que havia traído o próprio chefe. João disse que os policiais libertaram o refém ileso.
“A gente era praticamente uma quadrilha de 157”, João disse, referindo-se ao artigo 157 do Código Penal, que trata do crime de roubo.
João trabalha em um batalhão da polícia militar diferente agora. Ele disse que não denunciaria seus antigos colegas. “Não pensariam um milésimo de segundo para me matar ou a minha família”, ele disse.
II. Execuções Extrajudiciais e Acobertamento dos Casos
A polícia do estado do Rio de Janeiro matou mais de 8.000 pessoas na última década, de acordo com estatísticas oficiais[5]. Apesar de o número oficial de homicídios cometidos pela polícia ter atingido o ponto máximo de mais de 1.300 em 2007, caindo para cerca de 400 em 2013, o número voltou a crescer desde então. Apenas em 2015, policiais mataram pelo menos 645 pessoas. Nesse ano, a polícia foi responsável por um em cada cinco homicídios cometidos na cidade do Rio de Janeiro[6].
A polícia militar estadual, que conta com 48.000 policiais e faz o policiamento ostensivo, é responsável pela grande maioria dos homicídios, ao passo que a polícia civil, com aproximadamente 9.000 policiais e responsável pela investigação de crimes, cometeu o restante, de acordo com os dados oficiais obtidos pela Human Rights Watch[7].
Em quase todos os casos, os policiais envolvidos reportam os homicídios como atos de legítima defesa em reposta a tiros de suspostos criminosos. Entretanto, uma análise mais minuciosa dos autos dos procedimentos investigatórios, depoimentos dos policiais e estatísticas oficiais sugerem fortemente que uma grande proporção desses casos é, na verdade, de execuções extrajudiciais. A legislação brasileira que rege o uso de força por parte da polícia dita que policiais só devem utilizar “moderadamente dos meios necessários” como resposta a uma “injusta agressão, atual ou iminente” contra eles próprios ou terceiros. Isso está alinhado aos padrões internacionais de direitos humanos, que estabelecem que qualquer uso da força deve ser proporcional à ameaça enfrentada. A polícia do estado do Rio de Janeiro frequentemente enfrenta ameaças reais de violência por parte de membros de facções criminosas, e muitas das mortes registradas como consequência de confrontos provavelmente são causadas pelo uso legítimo de força por parte da polícia.
Entretanto, a Human Rights Watch obteve provas críveis em 64 casos envolvendo 116 fatalidades, incluindo de pelo menos 24 crianças e adolescentes, de que a polícia procurou acobertar o uso ilegal da força letal. Estão incluídos 35 casos originalmente documentados no relatório Força Letal da Human Rights Watch, de 2009, e 29 casos que ocorreram ou chegaram até nós desde então, incluindo 12 dos últimos dois anos. (A Anistia Internacional documentou outros nove casos de homicídios cometidos por policiais, ocorridos na Favela de Acari em 2014, nos quais concluiu que havia provas críveis de que a polícia cometeu execuções extrajudiciais, como, por exemplo, matando pessoas que estavam rendidas ou enquanto fugiam[8]).
Desde a publicação do nosso relatório de 2009, o padrão de uso ilegal da força letal pela polícia no estado do Rio de Janeiro continua o mesmo. Em alguns desses casos, as provas demonstram que o homicídio ocorreu depois do término do suposto confronto. Em outros, as evidências mostram que não houve confronto algum.
Casos nos quais policiais reportam falsamente execuções extrajudiciais como homicídios resultantes de legítima defesa não são incidentes isolados. Membros do sistema de justiça do estado do Rio contaram à Human Rights Watch que uma grande parcela dos homicídios cometidos pela polícia corresponde a esse padrão.
Ademais, e conforme será discutido com mais detalhes adiante, a proporção de indivíduos mortos pela polícia em supostos confrontos em relação ao número de pessoas feridas dá razões para acreditar que um número significativo de homicídios cometidos pela polícia no estado do Rio refere-se na verdade a execuções extrajudiciais.
Execuções Extrajudiciais
Em 32 dos 64 casos de homicídios cometidos pela polícia examinados pela Human Rights Watch, as provas periciais parecem contradizer as declarações da polícia no sentido que os indivíduos morreram em um confronto com a polícia. Por exemplo, em pelo menos 20 casos, as feridas na pele das vítimas indicam que os tiros foram dados à queima-roupa (a uma distância de menos de 50 centímetros), apesar de uma proximidade como essa não ser comum em confrontos[9]. Por exemplo:
- Em 10 de julho de 2014, policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), uma unidade de elite, atiraram em Carlos Diego Santos da Silva, de 22 anos, no Morro do Faz Quem Quere o levaram para o hospital, onde foi registrada sua morte.De acordo com a versão dos policiais, eles abriram fogo após terem sido atacados por membros de uma facção criminosa, e Carlos teria morrido no tiroteio. No entanto, o laudo necroscópico mostra que ele levou três tiros à queima-roupa, um nas costas e dois no peito, próximos um do outro. As balas atingiram seu coração, fígado e pulmões e romperam sua medula espinhal[10].
- Policiais relataram que em 14 de junho de 2012 eles feriram Jackson Lessa dos Santos, de 20 anos, na favela do Fogueteiro e o transportaram para o hospital, onde ele foi registrado como morto assim que chegou. A polícia disse que havia respondido a tiros dados por um grupo de homens armados. O laudo necroscópico diz que Jackson morreu com um tiro na nuca à queima-roupa[11].
- Policiais militares mataram Francisco Gomes de Oliveira, 32, em um suposto confronto no Complexo do Alemão em 11 de março de 2009. Eles o levaram para o hospital onde, de acordo com a polícia, morreu. Francisco foi baleado duas vezes nas costas, sendo que um dos ferimentos foi à queima-roupa (distância de menos de 50 centímetros) [12].
O relatório Força Letal documentou casos similares. Emvários deles, os laudos necroscópicos mostram orifícios de entrada de projétil na parte de trás da cabeça ou na nuca, ferimentos que muito dificilmente teriam ocorrido em situações de confronto, mas que são consistentes com execuções. Por exemplo:
- Em 27 de junho de 2007, durante operações realizadas para aumentar a segurança da cidade em preparação para os Jogos Panamericanos em julho, policiais mataram 19 pessoas no Complexo do Alemão em confrontos[13]. Das 19 vítimas, cinco foram baleadas à queima-roupa. Dois dos 19 mortos foram baleados somente por trás e outros nove levaram tiros nas costas e em outros lugares também (quatro deles na parte de trás da cabeça ou na nuca)[14]. Pelo menos duas das vítimas foram baleadas enquanto estavam deitadas de costas[15]. UmaComissão Federal de Técnicos Legistas, nomeada pela então Secretaria Especial de Direitos Humanos do governo federal para investigar as mortes, concluiu “em grau de certeza, que várias das mortes decorreram de um procedimento de execução sumária e arbitrária” [16].
- Policiais militares mataram Maykon S. Pereira Lima de 17 anos, em 16 de junho de 2007, em um suposto confronto. Maykon foi atingido por seis tiros, dois nas costas e um tiro à queima-roupa (a uma distância de menos de 50 centímetros)[17].
- Policiais militares mataram Michael Pereira Motta,de 21 anos,e Reinaldo Ferreira,de 18, em 14 de fevereiro de 2008, em um suposto confronto. Ambos levaram um tiro. Michael foi baleado nas costas e Ferreira foi baleado a uma distância de menos de 50 centímetros[18].
Além de provas periciais, em alguns casos, testemunhas também contradizem os relatos dos policiais sobre o que aconteceu. Em pelo menos 14 dos 64 casos examinados pela Human Rights Watch, testemunhas deram depoimentos que, se confirmados, classificariam os episódios como execuções extrajudiciais.
Casos recentes nos quais as provas oferecidas por testemunhas sugerem que ocorreu uma execução extrajudicial incluem:
- Em 29 de junho de 2015, membros do BOPE disseram que balearam três homens em resposta a um ataque no Morro da Coroa[19]. Os policiais disseram à polícia civil terem levado os três homens para o hospital depois de um paramédico do BOPE ter dito que eles ainda estavam vivos. Um deles sobreviveu.
Em depoimento prestado aos policiais civis investigando o caso, uma testemunha disse ter visto uma das vítimas, “Antônio”, de 28 anos, ainda vivo, deitado no chão. Ela não viu nenhum ferimento, mas Antônio disse à ela que tinha uma ferida na cabeça. Ele explicou para ela que havia dito à polícia que era um simples morador da favela, mas que mesmo assim eles o balearam. A polícia dispersou os vizinhos que haviam se aglomerado ao redor de Antônio. Quando a testemunha deixava o local, ela ouviu uma sequência de disparos. Ela acredita que foi nesse momento que a polícia matou Antônio. Mais de três horas depois, ela viu a polícia colocar os corpos de Antônio e de outro homem no porta-malas e jogar o homem que havia sobrevivido em cima deles. O Boletim de Atendimento Médico (BAM) atesta que Antônio já chegou morto. Este documento, incluído nos autos do caso, mostra que pelo menos um de seus ferimentos tinha “orla de tatuagem” (marcas de chamuscamento), indicando um tiro à queima-roupa. O laudo necroscópico determinou que Antônio levou sete tiros. A testemunha contou à Defensoria Pública que os policiais avisaram aos moradores que “retornariam à comunidade para fazer o mesmo” com aqueles que testemunhassem contra eles[20].
O relatório Força Letal documentou casos similares. Por exemplo:
- Em dezembro de 2006, dois policiais civis disseram ter baleado “Roberto ”idade desconhecida, em legítima defesa durante uma troca de tiros entre eles e um grupo de quatro homens ao qual Roberto pertencia[21]. Os policiais disseram que Roberto havia sido ferido e que eles tentaram socorrê-lo ao levá-lo para o hospital[22]. Entretanto, a mãe da namorada de Roberto contou à Human Rights Watch ter visto a polícia atirar nele enquanto ele estava ajoelhado e com as mãos levantadas, em um gesto de rendição, implorando por sua vida[23]. Não se sabe se Roberto morreu na cena do confronto ou no hospital.
A disseminação de câmeras de vídeo em viaturas policiais e celulares trouxe à luz vários casos nos quais policiais parecem ter atirado sem justificativa em pessoas que estavam desarmadas ou que não aparentavam ameaçá-los de maneira alguma. Por exemplo:
- Em 02 de agosto de 2014, dois policiais em uma viatura equipada com uma câmera de vídeo viram um carro que eles consideraram suspeito. Eles disseram que ligaram a sirene, maso motorista não parou.Um dos policiais abriu fogo, matando Haíssa Vargas Motta, de 22 anos. Posteriormente, os policiais alegaram ter atirado após ouvir um disparo, mas não há barulho deste disparo no vídeo e os policiais também não o mencionam na filmagem. As pessoas dentro do veículo estavam desarmadas[24].
- Em 20 de fevereiro de 2015, policiais mataram Alan Souza de Lima, de 15 anos, e feriram Chauan Jambre Cezário, de 19 anos, na favela da Palmeirinha. Os dois policiais envolvidos disseram ter atirado em resposta a um ataque desferido por “criminosos” e que haviam confiscado duas pistolas. Chauan foi acusado de resistir à prisão e de posse ilegal de arma. Cinco dias depois, um veículo de imprensa publicou um vídeo gravado com o celular do próprio Alan, que mostrava ele sendo morto e Chauan ferido. O vídeo mostra os dois jovens brincando e em seguida correndo, e depois é possível ouvir alguns disparos em curta sucessão. Não se ouve qualquer outro disparo indicando um confronto. No vídeo, o policial pergunta a Chauan, que está ferido, porque ele havia corrido. “A gente estava brincando, senhor”, ele responde. Um segundo vídeo, gravado pelas câmeras da viatura de polícia, mostra os meninos fugindo e não atirando na polícia, e um dos dois policiais atirando de dentro do carro[25].
Acobertamentos
Depois de mortes causadas por ação da polícia, policiais rotineiramente manipulam, distorcem ou não preservam provas que são essenciais para a determinação da legalidade ou não da conduta policial. A Human Rights Watch documentou o uso reiterado de diversas táticas para acobertar má-conduta e esconder evidências. Essas táticas incluem falsos “socorros”, provas forjadas e intimidação de testemunhas.
Falsos “socorros”
Alguns policiais do Rio de Janeiro frequentemente removem os corpos de pessoas mortas pela polícia da cena do crime e as levam para hospitais, dizendo que estão tentando “socorrê-las”. Apesar dos falsos “socorros” aparentarem ser um esforço legítimo por parte dos policiais para ajudar as vítimas, na verdade eles destroem provas na cena do crime e prejudicam a perícia.
Dos 32 casos examinados pela Human Rights Watch nos quais a polícia levou uma vítima baleada para o hospital, em pelo menos 27 deles as vítimas já chegaram mortas.
Policiais do estado do Rio de Janeiro normalmente não prestam socorro ou transportam pessoas para o hospital em nenhum outro contexto que não seja o de homicídios causados por ação policial. Em casos como acidentes de trânsito ou tentativas de homicídio, os policiais chamam os serviços de emergência e preservam a cena do crime, segundo disseram diversos policiais e um promotor de justiça à Human Rights Watch [26].
O policial militar João contou à Human Rights Watch que a função da polícia é “chamar os serviços de emergência” quando encontram vítimas de acidente de trânsito ou de uma tentativa de homicídio, pois os policiais não são treinados para oferecer cuidados médicos. Ao mesmo tempo, ele descreveu à Human Rights Watch um caso no qual ele e sua guarnição cometeram uma execução extrajudicial, e depois colocaram armas nas duas pessoas nas quais haviam atirado, levando-as 40 minutos depois do incidente para o hospital (uma vítima já estava morta e a outra morreu no hospital, segundo ele). Nesse caso, transportar as vítimas para o hospital foi uma tentativa de acobertar o que realmente havia acontecido.
Em julho de 2015, o estado do Rio de Janeiro, por intermédio do Comandante da Polícia Militar, assinou Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público no qual se comprometeu, dentre outras coisas, a estabelecer, em seis meses, protocolo sobre a prestação de socorro a vítimas de arma de fogo[27]. O Termo estipula que as regras deveriam estabelecer que os serviços de atendimento médico de urgência deveriam transportar prioritariamente a vítima para o hospital. Os policiais somente poderiam transportá-la em casos em que isso fosse impossível e deveriam levar também um familiar da vítima sempre que possível[28]. Até junho de 2016, o comando-geral da polícia militar ainda não havia estabelecido essas regras[29].
Em muitos dos casos examinados pela Human Rights Watch nos quais policiais transportaram pessoas que eles haviam baleado para o hospital, essas pessoas não só chegaram mortas, mas os laudos necroscópicos revelaram que seus ferimentos eram tão graves que elas provavelmente haviam morrido no lugar onde ocorreu o incidente.
- Em 11 de fevereiro de 2015, dois policiais do BOPE disseram terem sido atacados a tiros na favela do Fallet. Os policiais teriam revidado de uma distância de 5 metros, ferindo Josué Oliveira Pereira, de 21 anos. Eles disseram que levaram Josué para o hospital em uma ambulância do BOPE depois que um paramédico do batalhão confirmou que ele ainda estava vivo. Os policiais disseram que Josué estava vivo quando chegou ao hospital, mas o prontuário médico revela que ele já estava morto. O laudo necroscópico concluiu que Josué foi baleado quatro vezes, sendo que dois dos tiros, desferidos de uma distância de 15 centímetros, foram fatais[30].
Remoção de roupas das vítimas
Em alguns casos, os policiais não preservam as roupas das vítimas, prejudicando assim o futuro procedimento investigatório, pois elas podem ser provas importantes. Por exemplo, roupas podem conter traços de pólvora, que podem revelar se um tiro foi desferido à queima-roupa, ou conter fragmentos de bala que ajudam a determinar o calibre do projétil e, assim, a arma utilizada[31]. Normalmente não é possível determinar se as roupas das vítimas foram descartadas antes, durante ou depois que o corpo foi levado para o hospital, (ou se foram descartadas no próprio hospital). O que fica claro, no entanto, é que alguns daqueles indivíduos a quem se prestou o suposto socorro chegam nus para o exame necroscópico.
- No homicídio de Antônio no Morro da Coroa em 2015, a testemunha que viu Antônio depois que ele foi baleado pela polícia disse que ele usava uma camisa e uma jaqueta. Entretanto, o laudo necroscópico relata que o corpo dele chegou sem camisa ou jaqueta à autópsia[32].
- No caso do Complexo do Alemão, em 2007, fotografias mostram que pelo menos 17 das 19 pessoas mortas pela polícia estavam usando roupas na cena do crime, depois de terem sido baleadas e terem sido colocadas sob custódia policial[33]. No entanto, todas as 19 chegaram para o exame cadavérico sem as roupas[34]. Segundo uma Comissão Federal de Técnicos Legistas acionados para analisar os relatórios deste caso, “as vestes originais [das vítimas] não foram encaminhadas posteriormente para perícia”[35].
Provas forjadas
Além de equivocadamente removerem as roupas das vítimas, alguns policiais alteram a cena do crime de outras maneiras antes da chegada dos peritos (isso quando eles realmente chegam).
Às vezes os policiais forjam confrontos- ao colocarem armas nas mãos das vítimas e dispará-las. Outras vezes, eles também removem quaisquer evidências que indiquem que o uso da força letal foi ilegal ou plantam evidências falsas de comportamento criminoso por parte das vítimas, como drogas.
- No homicídio de Jackson Lessa dos Santos na favela do Fogueteiro em 2012, a polícia alegou que havia respondido a tiros vindos de um grupo de homens armados e que Jackson estava carregando drogas e uma arma. Entretanto, uma testemunha contou à polícia civil ter visto Jackson morto no chão e que viu um policial, que usava luvas cirúrgicas, colocar uma arma na mão esquerda de Jackson e atirar. Ela também disse que os policiaisplantaram uma mochila nele[36].
- Em 28 de novembro de 2015, policiais militares mataram Roberto de Souza Penha, de 16 anos, Carlos Eduardo da Silva Souza, de 16 anos, Cleiton Correia de Souza, de 18 anos, Wilton Esteves Domingos Júnior, de 20 anos, e Wesley Castro Rodrigues, de 25 anos. Em seus depoimentos à polícia civil os policiais militares disseram que atiraram no carro onde os jovens se encontravam depois que um deles atirou em sua direção pela janela do carro. Porém, duas testemunhas disseram à polícia civil que viram um dos policiais usando uma luva colocar uma arma na mão de uma das vítimas. Peritos criminais concluíram que não havia resíduo de pólvora nas mãos de nenhum dos cinco rapazes mortos[37].
- Policiais militares mataram Eduardo Felipe Santos Victor, de 17 anos, no Morro da Providência em 29 de setembro de 2015. Eles disseram que Eduardo morreu em um confronto e possuía um transmissor de rádio, munição e uma arma. Entretanto, um vídeo, filmado escondido por um vizinho, mostra o adolescente sangrando profusamente no chão, enquanto um policial atira para o alto com sua arma para dar a aparência de que o adolescente tinha sido ferido em um confronto. Outro policial coloca uma arma na mão do menino e dispara duas vezes. Os policiais passam cinco minutos mudando o corpo de lugar e manipulando a cena do crime. Em nenhum momento eles prestaram socorro ao adolescente. Uma testemunha disse à imprensa que Eduardo não havia atirado nos policiais e tentou se render levantando as mãos, mas mesmo assim atiraram nele. Peritos criminais concluíram que não houve confronto algum[38].
Intimidação de testemunhas
Em alguns dos casos analisados, policiais suspeitos de terem cometido execuções extrajudiciais supostamente ameaçaram testemunhas e, em um caso específico, um policial foi denunciado pelo homicídio do filho de uma testemunha. Essas ameaças criam um clima de medo de depor contra a polícia, o que garante que muitos crimes não sejam investigados e que abusos policiais continuem impunes.
- Em 29 de julho de 2011, policiais mataram Anderson Matheus da Silva, de 14 anos. Eles alegaram que ele havia sido morto durante um confronto e que com ele haviam encontrado uma arma, munição e maconha. Entretanto, um investigador que trabalhou no caso contou à Human Rights Watch que os policiais militares tinham ido à favela do Salgueiro procurar por uma mulher que era testemunha em um caso em que eles respondiam pela suposta execução de Diego Beliene, de 18 anos[39]. De acordo com o investigador, os policiais encontraram Anderson, filho da mulher que procuravam, e o torturaram para que revelasse onde a mãe estava. Quando terminaram, eles supostamente o mataram com três tiros de fuzil[40].
- Em 02 de novembro de 2008, policiais perseguiram três homens armados no meio de uma avenida congestionada, de acordo com os autos do procedimento investigatório. Os policiais atiraram nos homens que estavam correndo, mas acertaram “Douglas”, um homem de 31 anos que dirigia uma van, de acordo com o depoimento prestado por uma testemunha. Os oficiais disseram que levaram Douglas, que foi baleado na cabeça, para o hospital, onde ele veio a falecer. A testemunha disse que ela viu os policiais manipulando a cena do crime para que parecesse que um dos homens que estava fugindo tivesse matado Douglas. Um dos policiais disse à testemunha que ele a conhecia e a ameaçou: “Cuidado com o que tu vai falar, porque eu posso te pegar na pista” [41].
- Testemunhas disseram ter sido ameaçadas por investigadores de polícia por causa do homicídio de “Cesar”, em 2008. De acordo com a polícia, Cesar estava andando de ônibus portando uma arma. Durante a viagem, um policial militar subiu no ônibus e andou em direção a ele[42]. De acordo com um amigo de Cesar, que diz ter testemunhado o incidente, o policial deu-lhe um tiro no pescoço ao mesmo tempo em que pegava a arma na cintura dele[43]. No registro da ocorrência, o policial disse que Cesar estava sacando a arma quando ele se aproximou e por isso ele atirou. Depois do ocorrido, três amigos dele foram presos e levados para uma delegacia da polícia civil. O policial militar não conseguiu obter nenhuma testemunha para corroborar o que havia acontecido, apesar de o incidente ter sido durante o dia e dentro de um ônibus público[44]. Os três amigos de Cesar disseram ter sido visitados na cadeia por um policial que os ameaçou dizendo para não contradizerem a versão do policial que havia atirado[45]. Um dos jovens disse que um investigador já teria os depoimentos preparados para eles assinarem antes mesmo de tê-los entrevistado[46]. As declarações dos jovens que constam nos autos do inquérito policial basicamente tratam de seu relacionamento com Cesar e não contêm nenhuma indicação de que os jovens foram questionados sobre se haviam testemunhado o acontecido[47].
A imprensa e outras organizações não governamentais continuam a trazer a público denúncias de intimidação por parte da polícia, incluindo três casos recentes nos quais as testemunhas disseram que policiais apontaram suas armas para elas e as ameaçaram para que não falassem sobre o que viram. Em um caso, a testemunha disse que um policial disparou em direção a ela sem a acertar[48].
Dimensão das Execuções Extrajudiciais
O fracasso das autoridades brasileiras em investigar de modo minucioso e sistemático os homicídios cometidos pela polícia impossibilita qualquer estimativa precisa sobre quantos destes casos são de fato execuções extrajudiciais. Ainda assim, vários membros do sistema de justiça que trabalharam nos casos examinados pela Human Rights Watch disseram acreditar que o problema é generalizado.
O Procurador-geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Marfan Martins Vieira, disse que “grande parte deles [dos homicídios cometidos pela polícia] é uma fraude escancarada, são simulacros de confronto”[49]. O Promotor de Justiça Alexandre Themístocles de Vasconcelos –que atua em duas regiões do Rio com altos índices de homicídios cometidos pela polícia– disse à Human Rights Watch que “na grande maioria dos casos não há confronto”[50].
As estatísticas oficiais sobre homicídios cometidos pela polícia corroboram o entendimento das autoridades de que execuções extrajudiciais são bastante comuns. O número de mortos por ação policial é muito maior do que o número de baixas na polícia, fazendo com que seja difícil acreditar que todas estas mortes ocorreram em situações em que a polícia estava sendo atacada. Em 2015, a polícia do Rio matou ao menos 645 pessoas em supostos confrontos, enquanto 26 policiais morreram em serviço, sendo que pelo menos quatro foram em acidentes de trânsito. Isso significa uma média de 24.8 mortes de civis para cada policial morto[51]. Nas áreas de atuação do 9º, 39º e 20º batalhões da polícia militar, a polícia matou 49, 47 e 25 pessoas respectivamente em 2015, sem sofrer nenhuma baixa[52].
Além disso, o alto número de pessoas mortas pela polícia não é coerente com o baixo número de pessoas feridas nestes incidentes de “confronto”, já que o oposto seria esperado. De acordo com dados oficiais obtidos pela Human Rights Watch, policiais em serviço feriram 324 pessoas no Rio de Janeiro no período entre 2013 e 2015. Neste mesmo período, os policiais mataram 1645 pessoas, uma média de cinco mortos por cada ferido[53].
A alta proporção de mortos e feridos no Rio de Janeiro é ainda mais surpreendente face aos relatos de dois coronéis da polícia militar, ambos integrantes do comando da polícia militar em 2015, que disseram à Human Rights Watch que a mira da polícia é muito ruim[54]. Muitos policiais entrevistados pela Human Rights Watch reclamaram que o treinamento de tiro é de fato precário.
Estatísticas comparadas da África do Sul e dos Estados Unidos ajudam a revelar o quão desproporcional é o número de mortes causadas por policiais no Rio de Janeiro em relação a sua população. A taxa de homicídios cometidos por policiais no Rio foi de 3,9 para cada 100.000 habitantes em 2015[55], quase cinco vezes maior do que a taxa sul-africana, de 0,8 homicídios para cada 100.000 habitantes[56] e quase 10 vezes maior do que nos Estados Unidos, onde a maior estimativa nacional em 2015 foi de 0,35 mortes para cada 100.000 habitantes[57]. Essa diferença não pode ser atribuída à elevada taxa de homicídios no Rio de Janeiro, já que a taxa de homicídios é ainda mais alta na África do Sul[58].
Uma comparação entre as médias de civis mortos por policiais e policiais mortos por civis é também reveladora. As mais recentes estatísticas disponíveis na África do Sul mostram que nesse país 11 civis são mortos por policiais para cada policial morto por civis; nos Estados Unidos, esta média é de nove pra um; no Rio, é de 25 pra um. A Human Rights Watch não encontrou estatísticas nacionais sobre feridos pela ação policial na África do Sul ou nos Estados Unidos. Na cidade de Nova Iorque, o relatório mais recente do departamento de polícia mostra uma taxa de quase dois feridos para cada morto pela polícia, contrastando com a taxa de um ferido para cada cinco mortos pela polícia no Rio de Janeiro[59].
Por que a Polícia Mata
Conluio com criminosos, uma cultura policial que estimula a violência, estresse e treinamento insuficiente no uso legítimo da força são fatores que contribuem para o alto número de casos de uso ilegal da força letal pela polícia.
De acordo com os padrões internacionais, a legislação brasileira e o regulamento interno da polícia militar, a força letal deve ser usada pela polícia só em casos inevitáveis, devendo ser proporcional e necessária para garantir a segurança de civis e da própria polícia. Apesar disso, ao invés de respeitarem a legislação e os regulamentos, policiais no Rio de Janeiro às vezes obedecem a regras informais de uma cultura policial que encoraja o confronto e que por vezes chega a medir o seu sucesso a partir do número de supostos traficantes mortos.
Quando policiais estabelecem relações ilícitas com criminosos –envolvendo a prática de extorsão, suborno, sequestro ou outros crimes– eles acabam por matar por retaliação ou para estabelecer seu status e poder no contexto destas relações.
E quando policiais não contam com suficente apoio da corporação e treinamento no uso legítimo da força, tendem a agir por pânico e a aprender com comportamentos informais e impróprios de colegas, inclusive de policiais corruptos. Diversos praças entrevistados pela Human Rights Watch admitiram não saber quando atirar e disseram que seu treinamento sobre quando atirar e no uso de armas não-letais foi insuficiente. O Coronel da reserva Robson Rodrigues admitiu em 2015, quando era chefe do estado maior da polícia militar, que a maioria dos policiais não sabe quando atirar[60].
Uma cultura de confronto
Dois coronéis da reserva da polícia militar disseram à Human Rights Watch que oficiais que se envolvem em confrontos são valorizados em alguns batalhões. “Eles acreditam que o bom policial é aquele que elimina o inimigo”, disse o coronel da reserva Ubiratan Angelo, ex-comandante geral da polícia militar[61]. “Existe uma cultura que valoriza o confronto”, disse o Coronel da reserva Robson Rodrigues[62].
O Major Roberto Valente, que comanda uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) admitiu que, durante a maior parte de sua carreira, ele acreditou que a única solução para os problemas de segurança pública do Rio de Janeiro era o confronto armado. “Nós considerávamos uma operação como bem-sucedida quando havia criminosos mortos” disse o major[63]. (Ele disse à Human Rights Watch que hoje acredita que essa estratégia não era efetiva no combate ao crime, pois não resultava no desmantelamento de organizações criminosas, e destacou a importância da prevenção ao crime, que ele diz ser o foco principal da UPP que comanda).
Após a graduação na academia militar, a primeira posição ocupada pelo policial militar Danilo foi em um batalhão em uma zona de alta criminalidade na região metropolitana do Rio de Janeiro. “Minha experiência inicial como policial foi a de matar bandidos. É o que era exigido como bom resultado por meus superiores... A cultura no batalhão era essa, era a morte. Em tom de brincadeira, todo final de serviço perguntavam: ‘prendeu alguém, matou alguém? ’... Se você deu um tiro e não foi fatal, você terminava de matar. Eu vi isso acontecer mais de uma vez”[64].
De acordo com policiais da ativa e da reserva entrevistados pela Human Rights Watch, esta atitude ainda prevalece de forma generalizada na polícia[65].
- Em 11 de Junho de 2014, dois policiais prenderam três adolescentes, suspeitos de cometerem furtos e roubos no centro da cidade do Rio de Janeiro. Eles colocaram os adolescentes no porta-malas da viatura. Uma câmera na viatura gravou a ação dos policiais. Eles levaram as crianças até uma área de mata. Aparentemente eles tiveram pena de um deles e o deixaram ir. Neste ponto, a gravação é interrompida. Os policiais atiraram nos outros dois adolescentes. Eles mataram Matheus Alves dos Santos, de 14 anos. O outro, de 15 anos, fingiu-se de morto e posteriormente contou a história. A gravação prossegue com os policiais partindo na viatura. “Menos dois. Se a gente fizer isso toda semana dá pra ir diminuindo”, diz um deles[66].
Corrupção
Muitas execuções extrajudiciais cometidas por policiais estão ligadas ao seu envolvimento com a corrupção, de acordo com promotores de justiça e policiais civis e militares entrevistados pela Human Rights Watch. “O auto de resistência fraudado, a execução sumária, é um dos instrumentos de poder que o policial, o mau policial, usa para estabelecer o domínio dele numa determinada área, para poder extorquir o tráfico de drogas”, disse o Promotor de Justiça Paulo Roberto Cunha[67].
Por exemplo, em São Gonçalo, uma cidade na região metropolitana do Rio de Janeiro, a polícia civil descobriu a participação de cerca de 60 policiais militares e outros 50 ex policiais em grupos de extermínio, operando no período entre 2008 e 2011, de acordo com um investigador que trabalhou nesses casos[68]. Ele disse que uma das atividades do grupo era sequestrar traficantes de drogas e pedir resgate. Se os cúmplices do traficante pagavam o resgate, os policiais o libertavam, mas se a família do traficante se envolvia, eles matavam o refém, por medo de que a família entrasse em contato com as autoridades. O investigador disse que os membros dos grupos de extermínio mascaravam algumas das execuções como resultantes de atos em legítima defesa durante operações policiais. A Promotora de Justiça Fabiola Lovisi, que trabalha atualmente em São Gonçalo, acredita que a maior parte dos homicídios cometidos pela polícia na cidade ainda está ligada a casos de extorsão. Ela disse que as provas vêm de familiares que, no entanto, não querem testemunhar contra a polícia[69].
Quem a Polícia Mata
Enquanto cerca de metade da população do Rio de Janeiro é negra, negros somam mais de três quartos das pessoas mortas pela polícia em 2015[70]. A maior parte dessas vítimas eram jovens do sexo masculino. Um estudo sugere que mais da metade dos membros da polícia militar do Rio de Janeiro são negros e que um em cada seis cresceu em uma favela, onde o percentual de moradores negros é mais alto do que em bairros mais prósperos[71]. Mas a diversidade racial na polícia não elimina a discriminação no contexto de uma cultura que pode predispor policiais a enxergarem jovens pobres negros como ameaças.
“O policial só mata onde tem aceitação social: na favela”, disse o coronel da reserva Ubiratan Angelo, ex-comandante geral da polícia militar do Rio de Janeiro, que é negro[72].
Estudos feitos por Ignacio Cano, professor na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mostram que a polícia no Rio de Janeiro atira com mais frequência em favelas do que em outras regiões da cidade. Eles também evidenciam que quando policiais atiram em um morador negro da favela, a probabilidade de matar o alvo é duas vezes maior do que quando atiram em um morador branco, de acordo com os dados oficiais analisados por Cano[73].
Fonte para a população do Rio de Janeiro: IBGE[74] . Fonte para homicídios cometidos pela polícia ISP[75].
|
Cinco Amigos Morrem Adriana Perez da Silva acredita que policiais abriram fogo contra um carro no qual estavam cinco jovens em 28 de novembro de 2015 devido à cor de suas peles[76]. “Eu acho que eles os mataram porque havia três negros no carro”, ela disse à Human Rights Watch. Um dos mortos foi seu filho de 16 anos, Carlos Eduardo da Silva de Souza. Os jovens, amigos de infância que viviam na favela Lagartixa, próxima ao local, haviam passado o dia no parque e estavam indo lanchar, disse Adriana. Os policiais que os mataram disseram posteriormente em seus depoimentos oficiais à polícia civil que estavam procurando suspeitos de roubar um caminhão. Eles disseram que um dos jovens sacou o corpo para fora da janela e atirou contra os policiais. Duas testemunhas, no entanto, disseram à polícia civil, em depoimentos contidos nos arquivos do caso, que viram um dos policiais, que vestia uma luva, colocar uma arma na mão de um dos corpos. Peritos concluíram que não havia resíduos de pólvora nas mãos de nenhum dos cinco jovens mortos[77]. Cleiton Corrêa de Souza, 18 anos, outra das vítimas, havia se inscrito na Marinha e estava prestes a começar seu treinamento, contou à Human Rights Watch Jorge Augusto Vieira, seu padrastro[78]. “Foi precissamente a polícia militar que tirou sua vida. Eles puseram um fim ao seu sonho e ao nosso”. Vieira disse que sua esperança agora é que a justiça seja feita.O homicídio dos cinco jovens atraiu a atenção de jornalistas no Rio de Janeiro, especialmente após a mídia mostrar imagens do carro, crivado por 63 buracos de balas. Promotores de justiça agiram rapidamente para denunciar os policiais por homicídio e fraude processual. |
III. Impunidade por Execuções Extrajudiciais e Acobertamentos
Policiais do estado do Rio de Janeiro que fazem uso ilegal da força letal quase nunca são levados à justiça. Esta foi uma das principais conclusões do relatório Força Letal, publicado em 2009 pela Human Rights Watch. Uma ampla revisão de novos casos e entrevistas com policiais e promotores de justiça revela que esta realidade permanece. “A impunidade ainda é a norma para estes casos”, disse o Promotor de Justiça Paulo Roberto Cunha[79]. O Procurador-geral do Estado, Marfran Martins Vieira, disse acreditar que grande parte dos confrontos relatados são “simulados”, mas confessou que o Ministério Público havia denunciado apenas um número “muito pequeno” de homicídios cometidos pela polícia[80].
O Procurador-geral de Justiça atribuiu esta impunidade recorrente ao fracasso da polícia civil na condução das investigações destes casos. “A investigação criminal (de policias que matam) inexiste, não é que não anda, não existe”, disse Vieira à Human Rights Watch. Se a polícia civil não investiga, disse ele, não há muito que os promotores de justiça possam fazer.
As investigações da polícia civil de homicídios cometidos pela polícia são de fato muitas vezes deficientes. A Human Rights Watch encontrou diversas falhas nas investigações policiais em quase todos os casos documentados no relatório Força Letal, assim como em quase todos os casos que examinamos desde então. Esses erros incluem a ausência de visita e exame das cenas dos crimes de homicídio cometido por policiais e a falta de esforço para obter o depoimento de testemunhas.
Ainda assim, o Ministério Público é, em última análise, responsável por garantir que casos de uso ilegal da força letal pela polícia sejam levados à justiça. De acordo com a Constituição Federal, o Ministério Público tem o dever de exercer o “controle externo” das atividades policiais – garantindo que a polícia civil faça seu trabalho direito, com respeito aos direitos humanos e prevenindo ou corrigindo irregularidades nas investigações[81].
Os promotores de justiça têm diversas ferramentas a sua disposição para compelir a polícia a melhorar o seu desempenho –pressão institucional, comunicação à corregedoria para promoção de ações disciplinares e, em casos extremos, a instauração de processos criminais por prevaricação. O Ministério Público do Rio, no entanto, tem falhado consistentemente em exercer sua função de garantir investigações adequadas e de exercer “controle externo” sobre as forças policiais.
Além disso, mesmo na ausência de investigações adequadas pela polícia civil, o Ministério Público tem o poder de conduzir suas próprias investigações independentes, ouvir testemunhas e obter provas[82]. No entanto, o Ministério Público apenas em raras ocasiões fez uso deste poder para conduzir investigações de homicídios cometidos pela polícia[83]. E mesmo os casos contendo fortes indícios apontando para a ocorrência de execuções extrajudiciais raramente são tratados de maneira séria pelo Ministério Público. Estes casos são tipicamente arrastados por anos até que os promotores de justiça pedem aos juízes que os arquivem por falta de provas.
As autoridades e os membros do sistema de justiça estão cientes do problema. “Não há um controle eficaz sobre a atuação policial, nem por parte do Ministério Público, nem por parte da polícia civil, nem por parte da própria polícia militar”, disse o Promotor de Justiça Paulo Roberto Cunha[84]. Fernando Veloso, chefe da polícia civil do estado do Rio de Janeiro, também admitiu que a polícia civil nem sempre investiga de maneira eficaz homicídios cometidos por policiais[85].
Vários coronéis da polícia militar também criticaram a atuação do Ministério Público. “Se o Ministério Público trabalhasse melhor, isso ajudaria a polícia” ao identificar policiais que infringem a lei e prejudicam o restante do contingente, disse o Coronel da reserva Robson Rodrigues, que à época da entrevista em 2015 era chefe do estado maior da polícia militar[86]. O Coronel da reserva da polícia militar Ibis Pereira, que foi chefe de gabinete do comando geral da polícia militar em 2015, disse que o Ministério Público “precisa fortalecer o seu papel... Se o Ministério fosse mais atuante, os indicadores de mortes cairiam”[87].
Impunidade nos Homicídios Cometidos pela Polícia
Em 36 dos 64 casos que examinamos, os promotores de justiça não apresentaram denúncias contra os policiais envolvidos, apesar de claros indícios de acobertamento do uso ilegal da força letal por parte da polícia. Apenas oito dos 64 casos foram a julgamento e apenas quatro resultaram em condenação.
- Ninguém foi responsabilizado pelas mortes no Complexo do Alemão, em 2007, quando policiais mataram 19 pessoas, apesar da existência de amplas provas corroborando a ocorrência de múltiplas execuções extrajudiciais. Cinco das 19 sofreram disparos à queima roupa. Dois dos 19 mortos tomaram unicamente tiros pelas costas e outros nove tomaram tiros nas costas e também em outros locais (quatro deles na nuca ou no pescoço)[88]. Pelo menos duas das vítimas sofreram disparos enquanto deitadas de costas. Ademais, há fortes evidências de que a cena do crime foi deliberadamente alterada, enquanto os investigadores foram negligentes ao deixar de solicitar análises de perícia básicas[89].
- Ninguém foi responsabilizado pela morte de “Roberto” em 2006, apesar do que duas testemunhas disseram que ele foi morto por policiais enquanto estava ajoelhado e com as mãos para o alto. A polícia disse que eles o feriram em um confronto com criminosos e que tentaram salvar sua vida, levando-o a um hospital. A mãe da namorada de Roberto disse à Human Rights Watch que não foi procurada uma única vez pela polícia civil ou por promotores de justiça, ainda que ela tenha assistido à morte de Roberto[90].
- Ninguém foi responsabilizado pela morte de “Luiz”, de 17 anos de idade, em 2007, apesar de testemunhas alegarem que policiais militares atiraram nele sem qualquer provocação, arrastaram seu corpo, forjaram um confronto atirando com uma arma colocada em sua mão e removeram o corpo da cena do crime em um carro sem identificação. O laudo necroscópico mostra que ele sofreu quatro disparos nas costas e um no pescoço[91].
- Ninguém foi responsabilizado pela morte de Jackson Lessa dos Santos em 2012, apesar do laudo necroscópico indicar que ele foi morto com um tiro à queima roupa na base do pescoço. Uma testemunha contou à polícia civil que o viu morto no chão, enquanto um policial usando luvas cirúrgicas colocou uma arma em sua mão esquerda e puxou o gatilho. Os policiais o levaram ao hospital alegando que ele ainda estava vivo[92].
- Ninguém foi responsabilizado pela morte de Josué Oliveira Pereira em fevereiro de 2015, apesar do laudo necroscópico mostrar que ele sofreu quatro disparos, incluindo dois a uma distância de 15 centímetros[93].
Quase todas as autoridades com quem falamos disseram que policiais envolvidos em execuções extrajudiciais raramente são levados à justiça. O Coronel da reserva Robson Rodrigues, que era chefe do estado maior da polícia militar quando a Human Rights Watch o entrevistou em 2015, disse que o Ministério Público “age apenas quando há um caso de grande repercussão“[94].
Dados oficiais sustentam essa avaliação, embora a falta de informações atualizadas e confiáveis dificultem determinar a exata proporção da impunidade. A Human Rights Watch perguntou ao Ministério Público em quantos dos 3.441 casos de homicídios cometidos pela polícia, e registrados oficialmente entre 2010 e 2015, os promotores de justiça haviam apresentado denúncias. O Ministério Público respondeu “quatro”, o que significa que denunciou apenas 0,1 por cento dos casos[95]. Posteriormente, o Ministério Público explicou que estes dados – alguns referentes a casos ocorridos há mais de cinco anos - eram “preliminares”[96].
Um estudo coordenado por Michel Misse, um professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, descobriu que promotores de justiça haviam denunciado, até 2007, menos de 1 por cento de todos os casos de homicídio cometidos por policiais em 2005[97].
A Anistia Internacional obteve uma lista dos procedimentos abertos pela polícia civil em 2011 sobre homicídios cometidos por policiais na cidade do Rio de Janeiro. Diante das 220 investigações, promotores de justiça apresentaram denúncia, até abril de 2015, em apenas um caso[98].
Em 2015 a ouvidoria da polícia do Rio de Janeiro recebeu 402 denúncias de cidadãos acusando policiais civis e militares de cometerem diversos crimes –incluindo prevaricação, extorsão, corrupção e homicídio– e, a partir destas denúncias, a polícia civil abriu apenas três investigações[99]. O Ministério Público não apresentou denúncia em nenhum deles. As corregedorias da polícia militar e da polícia civil abriram 34 processos administrativos que resultaram na suspensão de um policial e em uma advertência a outro.
Impunidade pelos Acobertamentos
De acordo com a legislação brasileira, as táticas de acobertamento, detalhadas no capítulo 2 – alterar a cena do crime, forjar provas e intimidar testemunhas – constituem os crimes de fraude processual e ameaça[100].
Processar com rigor os policiais envolvidos nesses crimes pode ser fundamental nos esforços para reduzir as execuções extrajudiciais cometidas pela polícia. Provas incriminatórias das técnicas de acobertamento são frequentemente fáceis de obter. Mesmo em certos casos em que pode ser difícil sustentar uma denúncia por homicídio doloso, ainda pode haver provas suficientes para denunciar os policiais por fraude processual. O ato de processar criminalmente o uso destas técnicas de acobertamento poderia servir para dissuadir policiais a acobertarem crimes violentos cometidos por seus colegas. Ao desencorajar o conluio em acobertamentos – tornando mais difícil aos policiais forjarem execuções extrajudiciais – esses processos também poderiam desencorajá-los a cometer crimes violentos.
Porém, infelizmente, o uso destas técnicas de acobertamento geralmente não resulta em processos criminais. Dos 64 casos que analisamos, policiais foram condenados apenas duas vezes por fraude processual. Entretanto, em pelo menos 27 destes 64 casos as vítimas transportadas pela polícia chegaram mortas ao hospital; em pelo menos sete casos testemunhas alegaram que os policiais haviam colocado drogas ou armas nos corpos; e em ao menos dois casos os policiais supostamente tentaram esconder os corpos das vítimas.
Ninguém foi responsabilizado, por exemplo, pela destruição de provas e manipulação da cena do crime nos casos do Complexo do Alemão e de Jackson Lessa dos Santos. No primeiro caso, uma análise dos registros fotográficos, médicos e policiais indicou a ocorrência de falsos “socorros”. No segundo caso, uma testemunha contou à polícia civil que observou um policial, usando luvas cirúrgicas, colocar uma arma na mão esquerda de Jackson e atirar com ela. Os policiais militares também alteraram a cena do crime levando-o para o hospital, embora ele tenha sido morto com um tiro na nuca, à queima roupa[101].
Investigações Policiais Inadequadas
O relatório Força Letal mostrou que a polícia civil rotineiramente descumpria até mesmo os requisitos mais básicos para investigações de homicídios quando estes eram cometidos por policiais[102]. Em 2011, dois anos após a publicação do relatório, a então chefe da polícia civil do estado, Martha Rocha, publicou um conjunto de diretrizes básicas (“diretrizes básicas de 2011”) para instruir a investigação de homicídios cometidos por policiais que incluía a exigência de que investigadores visitassem os locais onde ocorreram confrontos, tomassem depoimentos de todos os policiais envolvidos no incidente e dos médicos que trataram as vítimas[103].
As diretrizes básicas de 2011 também permitem aos investigadores utilizarem quando necessário a Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), a unidade de elite da polícia civil, com ampla experiência em operações em favelas.
No entanto, os 19 casos que examinamos desde então mostram que as diretrizes básicas de 2011 não têm sido observadas de forma consistente, se é que estão sequer sendo observadas, e que a polícia civil continua não investigando adequadamente os homicídios cometidos por policiais. As deficiências mais óbvias encontradas pela Human Rights Watch durante a revisão de investigações feitas pela polícia civil incluem a falha em visitar ou examinar os locais dos confrontos e a falha em conduzir depoimentos de policiais envolvidos e de testemunhas adequadamente.
A Polícia Civil não realiza exame do local da morte
A polícia civil muitas vezes não visita os locais onde ocorreram confrontos envolvendo policiais. Em apenas 14, dos 64 casos que examinamos, encontramos registros indicando a presença de investigadores da polícia civil ou de equipes de perícia na cena do crime. Dois promotores de justiça que lidam com casos de homicídios cometidos pela polícia em regiões distintas do estado do Rio de Janeiro disseram à Human Rights Watch que, em suas regiões, os investigadores de polícia raramente visitam a cena do crime imediatamente após a ocorrência das mortes[104].
“Pode ir uma viatura da polícia civil dois ou três dias depois para intimar um parente (da vítima) para prestar depoimento”, disse o promotor de justiça Alexandre Themístodes de Vasconcelos[105]. Mas eles não vão ao local imediatamente após a morte, explicou.
A legislação brasileira determina que um perito analise o local onde ocorreu um homicídio, e colete sangue, pêlos, cabelos, fibras e outras provas[106]. Entretanto, 52 dos 64 casos que analisamos não continham análise do local. Em dois casos, os delegados relataram no inquérito que não requisitaram a perícia do local porque os locais foram alterados quando os policiais envolvidos levaram as vítimas ao hospital. Mas as diretrizes básicas de 2011 requerem expressamente que os investigadores da polícia civil e as equipes da perícia visitem a cena do crime, ainda que ela tenha sido alterada[107]. Segundo essas regras, os policiais civis devem ainda tomar “medidas administrativas e penais apropriadas” por quaisquer adulterações[108].
Em um destes casos a polícia civil também justificou que a cena do crime estava localizada em uma região tão perigosa que não poderia ser garantida a segurança necessária para a realização de perícia e outras investigações. Mas as diretrizes básicas de 2011 permitem que a polícia civil utilize o CORE, a unidade de elite da polícia civil, com ampla experiência em operações em favelas, caso seja necessário garantir a segurança durante a análise de um local. Em 53 dos 55 casos que analisamos, nos quais faltava a análise da cena do crime, o investigador responsável nem sequer justificou tal ausência.
- Em 14 de novembro de 2014, membros do BOPE, unidade de elite da polícia militar, relataram que, em resposta a tiros por parte de “criminosos” na favela da Pedreira, atiraram em um dos supostos agressores, Charles Alves Duarte, de uma distância de 5 a 10 metros. Disseram que o levaram a um hospital, onde ele veio a falecer. O laudo necroscópico, entretanto, revelou que os tiros foram disparados a uma distância de menos de 1 metro, com balas perfurando seu coração e um pulmão –ferimentos que indicam que ele provavelmente morreu antes de ser levado ao hospital. O delegado responsável pelo caso explicou que não requereu a perícia do local, uma vez que a região ainda estava “sob ataque” por parte de traficantes e porque os policiais do BOPE haviam alterado o local ao removerem Charles (ambas justificativas ilegítimas segundo as regras de 2011). O investigador também não incluiu o registro hospitalar, que teria relatado se Duarte de fato ainda vivia quando lá chegou, nem quaisquer depoimentos da equipe médica (outra violação das diretrizes básicas de 2011)[109].
A Polícia Civil não questiona adequadamente policiais e testemunhas
A polícia civil não colheu depoimentos de todos os policiais envolvidos em homicídios em pelo menos 30 dos 64 casos de homicídios documentados pela Human Rights Watch[110].
- No dia 28 de janeiro de 2011, dois policiais militares relataram que em resposta a tiros na favela do Pica Pau, feriram Wellington Silva Nascimento, de 15 anos, e uma outra pessoa –não identificada nos arquivos do caso–, transportando-os para um hospital, onde Wellington veio a falecer[111]. De acordo com o relato dos policiais, eles encontraram duas armas, drogas e aparelhos de rádio transmissão na posse dos dois “criminosos” feridos. Saindo do hospital, os policiais foram à delegacia da polícia civil para registrar o incidente como um “confronto”. A polícia civil não os questionou sobre a distância da qual eles haviam feito os disparos e os arquivos do inquérito não contém registros de que a perícia tenha examinado o local. O laudo necroscópico revelou que Wellington tomou dois tiros no peito, assim como um terceiro tiro na lateral do corpo, disparado a uma distância de menos de 50 centímetros. O tiro à queima roupa contradiz o relato dos policiais de que as feridas resultaram de um confronto[112].
Ao invés de investigar o que poderia ter sido um caso de uso ilegal da força letal por policiais, a polícia civil focou sua atenção apenas nos supostos crimes cometidos por Wellington. Os dois policiais que disseram ter atirado nos suspeitos foram tratados não como pessoas sob investigação, mas como testemunhas. A polícia civil não interrogou ou sequer questionou os outros policiais envolvidos na operação e não colheu o depoimento do sobrevivente do tiroteio, nem dos médicos que trataram ambos, ou de quaisquer testemunhas.
As diretrizes básicas de 2011 e o Código de Processo Penal determinam que a polícia civil colha separadamente os depoimentos de todos os policiais envolvidos em um homicídio[113], de forma que nenhum deles ouça o que os demais disseram. Mas na maior parte dos casos examinados pela Human Rights Watch, no entanto, os depoimentos feitos por policiais militares à polícia civil eram praticamente idênticos, seguindo uma narrativa repetitiva e frequentemente contendo as mesmas frases, constituindo depoimentos que só podem ser descritos como superficiais.
De acordo com um investigador da polícia civil e um promotor de justiça[114], algumas guarnições da polícia militar escolhem os policiais que possuem o menor número de mortes em seus registros, dentre os envolvidos na operação, para falarem com a polícia civil –independente do conhecimento que estes detêm do caso– de modo a impedir que qualquer policial específico acumule um número muito alto de homicídios em sua ficha. Um policial militar que admitiu ter participado de execuções extrajudiciais nos contou que em sua guarnição os policiais simplesmente se revezavam para falar com a polícia civil, independente de quem havia de fato matado a vítima[115].
O revezamento nos depoimentos feitos à polícia civil era uma prática comum entre policiais militares corruptos que formavam grupos de extermínio, realizando sequestros, extorsão e homicídios na cidade de São Gonçalo entre 2008 e 2011, de acordo com um investigador da polícia civil que trabalhou nestes casos[116]. O investigador relatou que, enquanto em alguns casos os policiais militares simplesmente abandonavam os corpos das vítimas, em outros, eles acobertavam os homicídios, simulando confrontos e apresentando as vítimas como traficantes que os atacaram.
Em 41 dos 64 casos que estudamos, as únicas testemunhas entrevistadas pela polícia civil foram os policiais que disseram ter participado dos supostos confrontos.
Nos casos em que a vítima é levada ao hospital, as diretrizes básicas de 2011 estabelecem que os investigadores da polícia civil devem entrevistar os médicos envolvidos[117]. Essa medida é particularmente útil para descobrir casos nos quais a polícia leva um cadáver para o hospital para manipular o local da morte. Os investigadores da polícia civilouviram os médicos envolvidos em apenas um dos 64 casos que revisamos.
A investigação de homicídios cometidos pela polícia deveria ser mais fácil do que a de homicídios comuns, segundo o Promotor de Justiça Paulo Roberto Cunha[118]. Quando uma policial mata alguém, sabe-se quem é o responsável, qual foi a arma utilizada e as testemunhas geralmente incluem outros policiais. Os investigadores não precisam procurar por um suspeito, como na maioria dos homicídios; basta verificar se as provas corroboram ou contradizem a versão dos eventos conforme contada pelo policial, disse Paulo Roberto. “E por isso é mais dramático esse déficit de investigação, porque a rigor não é algo tão complexo assim de ser feito”, ele disse.
Uma operação do BOPE na favela do SerenoDois policiais militares do BOPE disseram à polícia civil terem ferido dois homens, que depois vieram a falecer, durante um confronto na favela do Sereno, em 15 de janeiro de 2010. Porém, os laudos da autópsia contradizem a versão dos fatos dada pelos policiais. Os dois disseram que sua guarnição havia sido atacada a tiros por oito criminosos, que eles então os perseguiram, baleando os dois homens, Caio Abílio Fulgêncio, idade desconhecida e Rômulo Belchior dos Santos Mendonça, de 21 anos. Os policiais disseram que levaram os dois homens ao hospital em um veículo blindado do BOPE, onde vieram a falecer. Os depoimentos dos dois policiais estão abaixo. A redação de ambos é praticamente igual: a única diferença, conforme sublinhado pela Human Rights Watch, é o nome do policial. Os laudos das autópsias afirmam que Caio levou um tiro na perna e dois tiros à queima-roupa, próximos um ao outro, que romperam sua aorta, traqueia e esôfago, além de atingir seus pulmões. A autópsia de Rômulo mostrou que ele foi atingido nas nádegas e estava sem a parte superior do crânio e todo o cérebro. Os dois policiais disseram que após trocarem tiros com os oito suspeitos, estes fugiram. Os policiais então foram até o lugar onde os suspeitos estavam antes de fugirem, encontrando lá dois homens feridos. Essa versão. Entretanto, não explica os dois tiros à queima-roupa que mataram Caio, nem como um homem sem massa encefálica poderia ainda estar vivo. A gravidade dos ferimentos de ambas as vítimas implica que muito provavelmente eles morreram no local. A polícia civil não entrevistou os outros policiais que participaram da operação, não procurou nenhuma testemunha, nem mesmo colheu depoimento dos médicos que supostamente atenderam os dois homens no hospital. |
Controle Externo Inadequado Por Parte Do Ministério Público
O Procurador-Geral de Justiça Marfan Martins Vieira disse que os promotores desempenham um “papel passivo” na maneira como lidam com casos de homicídios cometidos pela polícia: “O promotor aguarda pelo que vem da polícia (civil) porque ele tem outros afazeres”[119].
No Brasil, o Ministério Público tem o dever constitucional de exercer “controle externo da atividade policial”[120]. Essa obrigação inclui fiscalizar todos os estágios do trabalho da polícia, solicitar documentos e informações referentes a uma investigação, analisar os aspectos técnicos da investigação e avaliar as provas[121]. Legalmente, os promotores de justiça têm livre acesso às delegacias de polícia[122] e a quaisquer outras instalações públicas, bem como acesso a quaisquer documentos relacionados a inquéritos policiais[123]. Em outras palavras, o Ministério Público tem o dever e o poder para controlar a qualidade das investigações e os materiais investigativos produzidos pela polícia.
Uma medida importante para reforçar os poderes dos promotores de justiça em relação ao controle externo da atividade policial é uma resolução publicada em setembro de 2015 pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Esta Resolução estabeleceu regras “mínimas” para o “controle externo” sobre as investigações de homicídios cometidos pela polícia. Dentre outras provisões, a resolução prevê que a autoridade policial informe os promotores de justiça em até 24 horas a ocorrência de um homicídio cometido pela polícia[124]. As primeiras horas e dias após um confronto envolvendo policiais são cruciais para a investigação, uma vez que as provas ainda são recentes e é mais fácil encontrar testemunhas. Apesar disso, até junho de 2016, o Ministério Público do estado do Rio de Janeiro ainda não havia implantado essa resolução[125]. O resultado é que os promotores de
justiça do Rio de Janeiro geralmente ficam sabendo da ocorrência de um homicídio cometido pela polícia 30 dias ou mais após o incidente[126].
Mesmo sem a implantação da Resolução de 2015, os promotores de justiça contam com diversas ferramentas para reforçar o controle externo, incluindo a pressão institucional (veja abaixo), a comunicação à corregedoria para promoção de ação disciplinar contra policiais que se recusam a conduzir investigações ou impedem a condução das mesmas, a até, em casos extremos, promoção de denúncia criminal por prevaricação. Ainda assim, o Ministério Público tem fracassado, há décadas, em seu dever constitucional de realizar o controle externo e promover a responsabilização depoliciais por graves e recorrentes falhas nas investigações. Dessa forma, ao não cumprir com seu dever, o Ministério Público tem ajudado a dar continuidade ao uso ilegal de força pela polícia e à prática de acobertamentos.
Pressão institucional
De forma a garantir que as investigações policiais sejam minuciosas, promotores de justiça podem requerer por escrito que delegados de polícia tomem medidas específicas em um inquérito, como realizar perícia de uma determinada prova ou buscar testemunhas. A polícia civil é obrigada a acatar esses pedidos[127].
Delegados de polícia respondem por escrito a esses requerimentos. Documentos e arquivos em papel, que não possuem cópia eletrônica e geralmente não contém fotografias das evidências, podem ir e voltar entre os delegados de polícia e promotores de justiça por anos, um processo chamado de “jogo de ping pong” por Michel Misse da UFRJ[128]. Quando os delegados de polícia não respondem aos pedidos de informação, os promotores de justiça às vezes simplesmente negligenciam o prosseguimento do requerimento, fazendo com que casos fiquem parados por muitos anos.
Uma maneira simples de acelerar o processo se dá por meio de um telefonema ou e-mail do promotor à autoridade da polícia civil. Essa atitude demonstra o interesse do promotor no caso e geralmente funciona, segundo disse um promotor à Human Rights Watch[129]. Entretanto, com base em nosso estudo de 64 procedimentos investigatórios, além de entrevistas com membros do sistema de justiça e da polícia civil do Rio de Janeiro, esta é uma prática bastante rara[130].
Quando os delegados de polícia repetidamente ignoram um pedido de informações, promotores de justiça podem pedir que juízes decretem uma ordem de “busca e apreensão” de uma determinada prova que esteja na posse da polícia civil, incluindo perícias criminais[131]. O promotor de justiça Themístocles de Vasconcelos disse ter feito uso dessa medida em 11 casos entre 2015 e 2016, mas esta também parece ser uma prática rara[132].
Ações disciplinares
Os promotores podem ainda alertar a corregedoria da polícia civil sobre as policiais civis que não cumprem os requisitos mínimos de uma investigação de homicídio. As diretrizes básicas de 2011 sobre investigação de homicídios cometidos pela polícia categoricamente estipulam que o não cumprimento das suas regras é considerado uma infração disciplinar[133].
Apesar das diretrizes básicas de 2011 da polícia civil serem rotineiramente ignoradas, encontramos apenas alguns casos nos quais o promotor de justiça (sempre o mesmo) representou à corregedoria da polícia civil policiais civis que supostamente transgrediram as regras, para a promoção de ação disciplinar[134]. Porém, outra promotora de justiça contou à Human Rights Watch que se fosse alertar a corregedoria de cada inquérito gravemente deficiente sobre homicídios policiais, ela teria que enviar todos[135].
Denúncia criminal
Em casos extremos, como quando uma autoridade da polícia civil não cumpre reiteradamente os requisitos mínimos para a condução de uma investigação sobre homicídios cometidos pela polícia, promotores de justiça podem denunciá-la por crime de prevaricação. Funcionários públicos brasileiros podem ser responsabilizados criminalmente quando retardam ou deixam de praticar, indevidamente, ato de ofício “para satisfazer interesse ou sentimento pessoal” [136].
Casos de prevaricação dificilmente resultam em ação penal porque não basta comprovar incompetência; promotores de justiça precisam comprovar que as falhas na conduta são resultantes de uma inclinação pessoal[137]. Ainda assim, o Conselho Nacional do Ministério Público recomenda que os promotores de justiça do Brasil “Promovam a responsabilização de servidores públicos que agirem no sentido de impedir, frustrar ou dificultar a prática de atos relacionados ao exercício do controle externo” ou que ”desatenderam as requisições de diligências formuladas conforme a legislação pertinente” [138]. O Conselho também recomenda a responsabilização criminal de funcionários públicos que não realizam os procedimentos requeridos pelos promotores[139].
O chefe da polícia civil do Rio de Janeiro, Fernando Veloso, disse à Human Rights Watch que alguns policiais, assim como outros membros da sociedade brasileira, apoiam a execução de certos suspeitos[140]. Nos casos em que as falhas nos inquéritos policiais são gritantes e resultado de uma disposição pessoal, a responsabilização criminal de policiais civis seria justificada. A Human Rights Watch não encontrou nenhum caso no qual os promotores denunciaram uma autoridade da polícia civil em um caso de homicídio cometido pela polícia.
Promotores de Justiça não Investigam nem Apresentam Denúncias
Membros do Ministério Público que não contam com uma cooperação adequada da polícia civil têm autoridade para realizar suas próprias investigações criminais, ouvir testemunhas, obter provas e até denunciar os policiais antes mesmo de receberem o inquérito da polícia civil [141].
Na resolução de 2015, o Conselho Nacional do Ministério Público recomenda que promotores estaduais tomem as medidas necessárias para conduzir suas próprias investigações, como ouvir familiares de vítimas e testemunhas “quando necessário” [142]. Ainda assim, os promotores do Rio raramente fazem uso dessa prerrogativa nos casos de homicídios cometidos pela polícia [143].
Em alguns dos casos que examinamos, mesmo quando o laudo da autópsia e outras provas periciais provaram que a versão da polícia sobre um confronto era falsa, promotores não apresentaram qualquer denúncia ou levaram muitos anos para fazê-lo.
- Em 12 de abril de 2004, “homens armados” atiraram em uma guarnição da polícia militar da Favela de Vigário Geral e a polícia revidou os tiros, de acordo com dois policiais que estavam no local. Um dos policiais relatou ter matado Leandro Ferraz de Freitas, 16 anos. O outro policial disse que depois do confronto teria encontrado uma pessoa ferida com uma arma ao seu lado, em um beco. O policial não disse em seu depoimento o que fez após encontrar a pessoa e a polícia também não lhe perguntou. O ferido era Ronald Emiliano de Souza, 16 anos. Os autos do inquérito não indicam se ele foi levado ao hospital. O laudo da autópsia, redigido no dia seguinte ao suposto confronto, mostra que ele foi baleado uma vez no rosto, duas vezes no peito à queima-roupa e duas vezes nas costas, também à queima-roupa. Esses fatos são inconsistentes com a versão de um confronto. Em seu testemunho, o policial não mencionou se Ronald levantou sua arma ou se ele teve que atirar em Ronald em legítima defesa depois do confronto. Doze anos após o incidente os promotores ainda não haviam decidido se deveriam denunciar os policiais envolvidos no caso.
Em casos como os que se seguem, promotores pediram a juízes o arquivamento dos inquéritos policiais[144] apesar de fortes evidências de que uma vítima havia sido executada extrajudicialmente pela polícia ou, pelo menos, de que havia um acobertamento do que realmente havia acontecido. Os exemplos a seguir contêm fortes indícios de que a polícia levou uma pessoa morta ao hospital de modo a distorcer a cena do crime, mas em ambos os casos os promotores solicitaram que os inquéritos fossem arquivados por falta de provas e tiveram seus pedidos acatados por juízes:
- Em 20 de setembro de 2007, durante um suposto confrontocom criminosos na Favela da Cidade Alta, policiais balearam Renato Gomes Prado, 26 anos, quatro vezes com um fuzil, causando ferimentos que incluíam um orifício de 7 centímetros em seu rosto. Mesmo assim os policiais envolvidos disseram que ele ainda estava vivo eo transportaram para o hospital, onde ele chegou morto[145].
- Em 17 de setembro de 2007, policiais balearam Adriano Alves, 26 anos, ao menos 10 vezes na cabeça, costas, tórax, braços e pernas durante uma operação na favela Morro da Fé. Os policiais o levaram para o hospital; ele chegou morto[146].
De acordo com o Delegado da Polícia Civil Orlando Zaccone, que analisou 314 pedidos de arquivamento de inquéritos policiais feitos entre 2003 e 2009, para embasar esses pedidos, os promotores de justiça rotineiramente descrevem a pessoa morta como um traficante de drogas. Ele explicou à Human Rights Watch que os promotores fazem isso citando que o incidente ocorreu em locais onde é comum o tráfico de drogas, que houve apreensão de armas na cena do crime, e juntando declarações de familiares dizendo que a pessoa morta havia abandonado os estudos ou estava envolvida com o crime, ou simplesmente descrevendo a pessoa como traficante de drogas. Os promotores raramente fazem referência ao mais importante, ou seja, as circunstâncias dos homicídios, disse Zaccone[147].
Ausência de Controle sobre Policiais que Cometem Múltiplos Homicídios
Um pequeno número de batalhões é responsável pela maioria dos homicídios cometidos pela polícia no estado do Rio de Janeiro e, em alguns casos, os mesmos policiais estiveram envolvidos em um número desproporcionalmente elevado de incidentes. Ainda assim, o Ministério Público nunca sujeitou esses batalhões e policiais com os mais altos números de registros letais a uma análise mais minuciosa.
Setenta por cento de todos os homicídios policiais em 2015 foram cometidosno território patrulhado por 10 dos 41 batalhões de Polícia Militar existentes no estado do Rio de Janeiro. Ademais, há notícias de que o BOPE e CORE, unidades de elite dentro das polícias militar e civil, respectivamente, cometem um número desproporcional de execuções extrajudiciais, mas não existem dados oficiais públicos sobre o número de pessoas mortas durante suas operações[148].
Há notícias de que alguns policiais estiveram envolvidos em muitos homicídios. A participação recorrente de alguns policiais em particular em homicídios por si só deveria ser motivo para uma análise mais apurada[149]. Entretanto, nem a polícia nem o Ministério Público têm feito esforços para descobrir quem são esses policiais, muito menos investigar adequadamente suas ações[150].
- Em 16 de março de 2014, policiais mataram um adolescente de 16 anos em um suposto confronto com traficantes de drogas na favela Morro da Congonha. Os policiais também balearam a moradora Cláudia Silva Ferreira, 38 anos, e a colocaram no porta-malas do carro (não no banco de trás) para levá-la ao hospital. Durante o trajeto, o porta-malas se abriu e Cláudia caiu, mas uma parte da sua roupa ficou presa no para-choque do carro, fazendo com que ela fosse arrastada por 350 meros até que os policiais percebessem o que estava acontecendo e a colocassem de volta no carro. Dois transeuntes gravaram vídeos do incidente. Cláudia chegou morta ao hospital. O laudo necroscópico revelou que a causa de sua morte foi um tiro que atingiu seu coração e pulmão. Os vídeos atraíram a atenção da imprensa e os três policiais envolvidos foram presos ou denunciados. Um deles já se envolvido em 63 homicídios e outro em seis[152].
O Coronel da reserva Ibis Pereira, que foi chefe de gabinete do comando geral da polícia militar em 2015contou à Human Rights Watch que o comando da polícia militar “não sabe quem são os policiais que mais matam” [153]. Ibis Pereira também contou sobre sua experiência ao longo de 30 anos de carreira: “Eu nunca fui fiscalizado pelo Ministério Público. Nenhum promotor entrou em um batalhão para perguntar porque um policial tem tantos autos de resistência e continua trabalhando”.
Processar os Responsáveis por Execuções Extrajudiciais é Possível: O exemplo de São Gonçalo
Um esforço sistemático para avançar na responsabilização criminal de policiais envolvidos em execuções foi realizado entre 2008 e 2011, em São Gonçalo, cidade de um milhão de habitantes na região metropolitana do Rio de Janeiro. A então juíza da 4ª Vara Criminal, Patrícia Acioli, e um promotor de justiça da mesma vara, Paulo Roberto Cunha, estabeleceram a investigação de homicídios cometidos pela polícia como uma prioridade, contando com o apoio dos investigadores da polícia civil local.
De acordo com o promotor de justiça Paulo Roberto Cunha, a motivação inicial foi uma execução extrajudicial cometida em 2008 na qual um dos policiais envolvidos confessou o crime[154]. O policial revelou ainda detalhes sobre como as patrulhas policiais geralmente mantinham em suas viaturas drogas e armas para que pudessem ser colocadas nas cenas de execuções extrajudiciais de forma a falsamente incriminar as vítimas como traficantes de drogas.
Perturbado com o que havia ouvido, o promotor de justiça Paulo examinou todos os homicídios cometidos pela polícia em São Gonçalo no ano de 2008 e verificou que a maneira como os policiais descreviam os crimes era praticamente igual e que as investigações eram inadequadas. Ele calculou que em 95 por cento dos casos não houve perícia do local do crime. Ademais, em nenhum dos casos foi feita uma reconstituição do crime por parte da polícia civil, procedimento realizado no local de um incidente, no qual policiais e testemunhas contam o que viram e os investigadores compararam seus depoimentos com o laudo pericial e as características físicas do local[155].
Para pôr fim às práticas inadequadas e ilegais de investigação, o promotor de justiça Paulo preparou um documento contendo procedimentos detalhados a serem seguidos pela polícia nos casos de homicídios policiais e convenceu delegados, o comandante da polícia militar de São Gonçalo, peritos e promotores a assinarem um acordo de que seguiriam os novos procedimentos[156]. Ele também deixou claro para a polícia militar que qualquer policial que removesse uma vítima de homicídio cometido pela polícia da cena do crime com a justificativa de levá-la ao hospital seria denunciado. Ao invés disso, os policiais deveriam chamar os serviços de emergência, assim como fazem no caso de incidentes que envolvem quaisquer outras vítimas de homicídio ou de acidentes de trânsito. Policiais só poderiam levar a vítima ao hospital se fossem acompanhados por um familiar.
A juíza Patrícia apoiou os esforços do promotor, aceitando todas as denúncias apresentadas pela promotoria no caso de homicídios cometidos pela polícia e determinando a prisão preventiva dos policiais denunciados. Além disso, ela acompanhava o promotor de justiça Paulo nas reconstituições de crime realizadas nas favelas. “Ela era a única de todos os juízes que fazia isso”, disse o policial civil Artur à Human Rights Watch[157].
Durante esse período, investigadores da polícia civil descobriram o envolvimento de cerca de 60 policiais da ativa e outros 50 ex-policiais em grupos de extermínio em São Gonçalo, segundo Artur, investigador da polícia civil que trabalhou nesses casos [158]. Ele contou que esses grupos de extermínio recebiam pagamentos dos comerciantes locais para “limparem” as áreas comerciais da cidade, o que eles faziam ao matar indivíduos suspeitos de atividade criminosa. Segundo o investigador, eles também sequestravam pessoas suspeitas de serem traficantes de drogas e pediam resgate. Se a facção criminosa a qual pertencia o refém pagasse o resgate, eles o libertavam ileso. Porém, se a família do refém se envolvesse no caso, eles o matavam, por medo de que a família entrasse em contato com as autoridades. Os membros de grupos de extermínio também mataram diversas pessoas que testemunharam seus crimes, mas que não estavam envolvidas em
atividades criminosas. O investigador disse que os policiais mascaravam essas execuções como homicídios cometidos em legítima defesa durante operações policiais nas favelas.
Entre outubro de 2008 e junho de 2011, os promotores denunciaram 107 policiais militares, o que correspondia a cerca de 15 por centor da tropa do 7° Batalhão da Polícia Militar de São Gonçalo[159]. A morosidade do sistema judiciário brasileiro fez com que apenas três casos tenham sido julgados, resultando em uma absolvição e na condenação de cinco policiais.
Em agosto de 2011, um grupo de policiais matou a juíza Patrícia Acioli, horas depois dela ter decretado ordens de prisão contra os mesmos policiais pelo crime de homicídio. O Promotor de Justiça Paulo Roberto Cunha descobriu que também estava na lista das execuções e deixou São Gonçalo[160]. Os responsáveis pela execução da juíza Patrícia foram depois condenados, incluindo o comandante do batalhão local da polícia militar, Cláudio Luiz Silva Oliveira. Entretanto, não houve progresso em outros casos. Desde 2012, promotores em São Goncalo apresentaram denúncias em apenas um caso de homicídio policial.
Durante o período em que as autoridades estiveram ativamente envolvidas em esforços para obter justiça em casos de execuções extrajudiciais, entre 2008 e 2011, homicídios cometidos pela polícia caíram 70 por cento em São Gonçalo[161]. Fabíola Lovisi, uma promotora de justiça que colaborou com os esforços liderados pelo promotor Paulo Roberto Cunha, atribui essa queda aos esforços conjuntos da juíza Patrícia Acioli, promotores de justiça e agentes da polícia civil. Ela disse que “a resposta rápida do estado fez a polícia repensar suas ações”[162]. Policiais alertavam que as medidas impediriam o desempenho do trabalho policial, acarretando o aumento da criminalidade, mas o número de roubos e homicídios em geral cometidos em São Gonçalo também caiu durante esse período[163].
Em 2012, enquanto o impacto da execução de Patrícia ainda era sentido, o número de homicídios cometidos pela polícia em São Gonçalo permaneceu estável, mas, desde então, mais do que triplicaram, atingindo a marca de 76 em 2015, o número mais alto de todo o estado[164].
Fonte: Instituto de Segurança Pública [165]
O Coronel Samir Vaz Lima, comandante do batalhão da polícia militar de São Gonçalo disse à Human Rights Watch que o aumento em homicídios cometidos pela polícia é resultado do aumento das atividades de traficantes de drogas[166]. Entretanto, o volume de drogas apreendidas caiu 25 por cento entre 2013 e 2015[167].
Ademais, o padrão de medida de munição utilizada, desenvolvido em 2015 pela UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), em colaboração com a polícia militar, mostra que policiais em São Gonçalo atiram com muito mais frequência do que policiais de outros batalhões, mesmo quando se leva em consideração a diferença nos níveis de criminalidade[168].
IV. Impacto das Execuções Extrajudiciais na Polícia e na Segurança Pública
Execuções extrajudiciais têm um enorme impacto não só nos familiares das vítimas e nas comunidades onde moram, como também nos próprios policiais. Elas contribuem para os ciclos de violência que fazem o trabalho da polícia ainda mais perigoso, inclusive para os policiais que não têm qualquer relação com as execuções. Ademais, execuções extrajudiciais podem causar um sério impacto psicológico àqueles que as testemunham e permitem que aconteçam e aos policiais que têm de trabalhar em um ambiente no qual crimes graves cometidos por seus colegas não são punidos.
Abusos cometidos pela polícia também enfraquecem a segurança pública ao criarem uma divisão entre a comunidade e a polícia. As dificuldades atualmente enfrentadas pelas Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), o projeto mais ambicioso do Rio de Janeiro para melhorar a segurança pública em anos, demonstram como a falta de confiança de ambos os lados possibilita um aumento da violência.
Impacto das Execuções Extrajudiciais nos Policiais
Aumento do perigo da atividade policial
Trabalhar como policial no Rio de Janeiro pode ser extremamente perigoso. As facções criminosas são grandes, fortemente armadas e violentas. Nas favelas onde muitos policiais atuam, ataques podem acontecer sorrateiramente. Policiais contaram à Human Rights Watch que encaram esse perigo muitas vezes com armamentos e veículos malconservados, coletes a prova de balas que não os servem corretamente e sem treinamento adequado para responder às ameaças e saber quando devem atirar[169].
Diversos policiais militares disseram à Human Rights Watch que execuções extrajudiciais cometidas por colegas aumentam ainda mais o risco de uma profissão que já é perigosa por natureza. Um dos motivos para isso, citado pelos entrevistados, é que os criminosos ficam menos dispostos a se renderem pacificamente à polícia quando são encurralados, se acreditam que serão executados ao se renderem ou assim que estiverem sob custódia policial[170]. Tanto os membros das facções criminosas quanto os policiais passam a acreditar que se trata de uma situação de “matar ou ser morto”, segundo explica o policial Danilo: “Traficante sabe que, se for preso, não vai ser respeitado, então ele não respeita. Ele vai matar, com crueldade” [171].
Vários policiais entrevistados pela Human Rights Watch também disseram que execuções extrajudiciais podem colocar a vida dos policiais em perigo ao provocar a revolta as comunidades onde trabalham [172].
- Em 29 de setembro de 2015, a sociedade brasileira pôde assistir a um vídeo, gravado de maneira escondida na favela do Morro da Providência, mostrando a polícia reorganizando a cena de um crime para fazer parecer que o menino de 17 anos Eduardo Felipe Santos Victor, que eles haviam acabado de balear, havia atirado neles primeiro. No vídeo, um policial dá tiros para o ar e o outro coloca uma arma na mão do menino, que está sangrando profusamente no chão. O policial dispara a arma duas vezes usando a mão do menino. Os policiais então passam cinco minutos movendo o corpo e alerando a cena do crime. Em nenhum momento prestam assistência médica ao menino, que depois morreu[173].
A policial militar Laura, que trabalha na UPP do Morro da Providência, descreveu o vídeo como “um show de horrores” que fez com que ela se sentisse “muito vulnerável”[174] apesar de não ter nenhum envolvimento com o ocorrido. “Eu sei que faço o que é certo no meu trabalho, mas eu percebo os olhares de desconfiança e ódio das pessoas”, ela contou à Human Rights Watch. Os policiais no vídeo colocaram a sua vida, bem como a de todos os outros policiais, em um risco ainda maior, ela disse, porque desperdiçaram um recurso precioso, que salva vidas: a confiança da comunidade onde atuam. Quando os cidadãos confiam na polícia, eles podem ajudar a prevenir emboscadas, ela disse: eles “às vezes nos avisam para não seguir por um determinado caminho”. Um bom relacionamento com a comunidade faz com que os ataques a postos policiais sejam menos prováveis, completou o Tenente Franco Louredo, o segundo no comando da UPP: “Se a comunidade frequenta aqui, o tráfico não vai atacar” [175].
Execuções extrajudiciais podem tornar a vida fora do serviço ainda mais perigosa. Vários policiais contaram à Human Rights Watch que não podem morar em favelas ou fazer uso de serviços de lotação, que servem como meio de transporte público em algumas áreas, e frequentemente têm ligação com o tráfico de drogas. Muitos deles inclusive evitam andar de transporte público. Alguns policiais contaram à Human Rights Watch que, para evitar serem reconhecidos, geralmente não carregam sua identificação policial quando estão fora do serviço, apesar de ser exigido pelo Regulamento Disciplinar que o façam[177]. Vários disseram ter medo de levar seus uniformes para lavar em casa, pois isso significa que potenciais criminosos que os encontrem no caminho podem conseguir identificá-los como policiais. Os policiais disseram à Human Rights Watch que o medo de serem reconhecidos como policiais e mortos durante roubos faz com que saquem repentinamente suas armas, caso encontrem-se no meio de uma situação de roubo, mesmo que estejam enfrentando vários criminosos sozinhos. Alguns policiais são mortos no confronto que se segue, o que explica porque a cada seis pessoas mortas em latrocínios no Rio de Janeiro, uma é um policial fora do serviço, de acordo com o Instituto de Segurança Pública[178].
Fonte: ISP.[179]
Pressão para apoiar, acobertar e participar de execuções
Execuções extrajudiciais praticadas por policiais têm outro impacto ainda mais direto nos batalhões de polícia: os colegas daqueles que cometem essas execuções têm que escolher entre ficarem calados diante de crimes cometidos pelos colegas e até participarem do acobertamento (infringindo assim a lei) ou denunciarem a ação e enfrentarem represálias que incluir a morte.
A legislação requer que os policiais não só denunciem seus colegas corruptos, como também prendam aqueles que cometem crimes. De acordo com vários policiais com os quais falamos, entretanto, existe um “código de silêncio” que impera entre os policiais militares e os compele a atuarem como cúmplices dos crimes cometidos por seus colegas. Se não o fizerem, correm o risco de serem condenados ao ostracismo[180]: “Você sente medo. Você sente receio por não ser aceito no grupo. Muitos policiais replicam a prática errada por medo de não ser aceitos no grupo”, disse um policial militar chamado Ronaldo à Human Rights Watch[181].
Dois policiais contaram à Human Rights Watch que se sentíam pressionados por seus superiores para participarem de execuções extrajudiciais[182]. O Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro não lhes deixa muitas escolhas a não ser ceder à pressão, caso essa seja feita como uma ordem direta: não existe um dispositivo que garanta proteção a um policial militar que se recuse a acatar ordens ilegais. De acordo com o Regulamento, quando uma ordem “importar em responsabilidade criminal para o executante, poderá o mesmo solicitar sua confirmação por escrito”, mas o regulamento não prevê a possibilidade de um policial não acatar a ordem[183]. Além disso, o Regulamento, estabelecido durante a época da ditadura militar no Brasil, de 1964 a 1985, é rígido no que diz respeito ao deverde todo policial militar na ativa e na inatividade de “manter a disciplina e respeitar a hierarquia” a todo o tempo[184].
Porém, o maior impeditivo à denúncia ou objeção a crimes praticados por colegas policiais é frequentemente o medo de morrer nas mãos dos policiais que praticam condutas ilegais. Três policiais que participaram, testemunharam ou sabiam que execuções extrajudiciais tinham sido praticadas disseram à Human Rights Watch que os policiais envolvidos os matariam ou atacariam suas famílias, caso eles dissessem qualquer coisa[185]. Quando questionado sobre essa possibilidade de retaliação, o Major Márcio Rodrigues, comandante da UPP da favela da Mangueira, também reconheceu que policiais correm o risco de serem mortos se denunciarem atos ilegais cometidos por outros policiais[186].
Danos psicológicos
Muitos policiais militares fluminenses sofrem de altos níveis de estresse psicológico. Um estudo de 2014 realizado por pesquisadores da Universidade de Stanford e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) fez uma pesquisa com mais de 5.000 policiais e mais da metade deles declararam sentir-se às vezes ou frequentemente com raiva, desmotivação e angústia[187]. Um quarto deles se declarou deprimido. Os psicólogos da polícia militar concluíram, com base em outro levantamento feito pelo comando da polícia militar com membros de batalhões com alto volume de munição utilizada, que entre 25 por cento e 30 por cento desses policiais tinham “sofrimento mental” [188]. Ademais, um estudo feito em conjunto pelos psicólogos da polícia militar e a UERJ revelou que a probabilidade de um policial militar cometer suicídio é quatro vezes maior do que para a população em geral[189].
Ainda que exista uma variedade de fatores que contribuem para os altos níveis de estresse entre os policiais, um dos principais é o medo de ser morto, de acordo com o estudo de 2014 e com o relato dos policiais entrevistados pela Human Rights Watch[190].
Execuções extrajudiciais aumentam esse medo exponencialmente, incitando a dinâmica de “matar ou morrer”, segundo a qual os criminosos são mais propensos a atirar do que se render. Execuções extrajudiciais podem também aumentar os sentimentos de animosidade da população em relação à polícia, podendo motivar criminosos a matar policiais sempre que tiverem a oportunidade, inclusive atacando policiais que estejam fora de serviço.
O exército dos EUA concluiu que, além do medo de ser atingido, o ato em si de disparar um tiro pode ter um profundo impacto psicológico[191]. Mesmo um confronto justificado pode ser traumático. O livro de referência do exército dos EUA “War Psychiatry”, que contém 500 páginas, estabelece que “as baixas causadas pelo próprio soldado ao inimigo geralmente são descritas como os eventos mais estressantes”, e cita um comandante que diz que “para a maioria dos soldados, é mais difícil lidar com ter que atirar nas pessoas do que com a perda de um amigo” [192]. Esse fenômeno é às vezes chamado de “trauma do perpetrador”, ou seja, o trauma causado por ter cometido um ato de violência, ao invés de ser vítima de um.
No Rio de Janeiro, o atendimento psicológico para policiais é inadequado e o atendimento psiquiátrico é praticamente inexistente, de acordo com os membros do núcleo de psicologia da polícia militar. Em abril de 2016, não havia nenhum psiquiatra à disposição dos policiais militares, disse o chefe do núcleo de psicologia da polícia militar, Coronel Fernando Derenusson à Human Rights Watch [193]. Ainda assim, os psicólogos da polícia militar frequentemente se deparam com casos de policiais que deveriam se tratar com um psiquiatra, especialmente porque eles estão sempre próximos ao perigo e fazem uso de armas de fogo, complementou a subchefe do núcleo de psicologia, Major Maria Fernanda Campos[194].
Existem aproximadamente 70 psicólogos para atender 48.000 policiais militares, uma proporção de um psicólogo para cada 686 policiais[195]. O Coronel Fernando disse à Human Rights Watch que devido ao número reduzido de profissionais, os psicólogos não conseguem atender a todos os policiais que se envolvem em confrontos nem ao menos uma vez cada um, nem mesmo àqueles envolvidos em confrontos que resultaram em mortes. Eles somente atendem a policiais que são indicados por seus supervisores ou àqueles que solicitam uma consulta[196]. Entretanto, a cultura da polícia no Rio de Janeiro considera a busca por tratamento psicológico uma fraqueza, conforme contaram à Human Rights Watch diversos psicólogos da polícia militar, policiais e comandantes[197]. Consequentemente, de acordo com eles, pedidos voluntários para atendimento psicológico são raros[198].
- A policial militar Karla contou à Human Rights Watch que não teve acesso a atendimento psicológico apesar de ter se envolvidoem cinco confrontos durante os mais de dois anos que trabalhou em uma UPP de uma favela violenta[199]. No seu primeiro dia de trabalho, em dezembro de 2013, ela e um colega foram lotados em uma base avançada de uma favela (que consistia em pouco mais do que um container de carga) e logo foram atacados por traficantes de drogas. O fuzil do colega de Karla emperrou e Karla começou a atirar a esmo, pois não conseguia ver quem os estava atacando. Ela ligou para a base principal pelo rádio pedindo ajuda. Depois do confronto, um sargento chegou ao local e a repreendeu por não ter usado as palavras corretas para pedir assistência, ao invés de certificar-se de que ela estava em boas condições emocionais, visto que ela havia passado por um confronto armado no seu primeiro dia de trabalho. Ela continuou no posto até o final do seu turno. Karla conta que “tremia que nem vara verde”. Traficantes atacaram a base onde Karla estava alocada novamente no dia seguinte. Karla diz que não lhe ofereceram auxílio psicológico e que ela também não pediu. Dois anos depois, Karla já tinha sido parte de outros três confrontos, mas nunca havia se consultado com um psicólogo. Ela contou à Human Rights Watch que nessas condições atiraria em qualquer pessoa que estivesse portando uma arma, sem dar qualquer aviso, mesmo se a pessoa não estivesse ameaçando ninguém.
Policiais militares de alta patente da ativa e da reserva contaram à Human Rights Watch que policiais estressados e com medo têm a tendência de atirar com mais frequência, contribuindo assim para a dinâmica de “matar ou morrer” que acaba resultando em mais execuções extrajudiciais pela polícia[200].
Aumento da criminalidade policial
A participação em execuções extrajudiciais ou acobertamentos, especialmente quando ninguém é responsabilizado, pode ter um impacto corrosivo na conduta geral dos policiais. Um estudo de 2011 feito pela Associação Internacional de Chefes de Polícia revelou que os policiais tendem a racionalizar sua própria conduta criminosa (ou falta de ação quando outros policiais cometem crimes) de diversas maneiras. Eles negam que a pessoa morta era realmente uma vítima, reclassificando-a mentalmente como criminosa. Todos se convencem de que os homicídios serviram ao bem maior na luta contra o crime. Eles culpam a vítima por sua própria morte, pois estavam cometendo crimes. O estudo concluiu “Quanto mais um policial racionaliza seu comportamento criminoso, mais fácil se torna cometer outros crimes no futuro”[201].
Um policial fluminense que consiga racionalizar sua própria conduta criminosa pode ter mais facilidade para ultrapassar limites da próxima vez, dando continuidade a um ciclo de violência nas ruas e contribuindo com o que o Coronel da Polícia Militar da reserva Íbis Pereira descreveu como a erosão dos valores morais dos policiais. Depois que policiais matam com impunidade, é mais provável que eles se envolvam com corrupção e outros crimes, argumenta o Coronel Íbis: extorsão e roubos são moralmente menos graves do que tirar a vida de uma pessoa[202].
Conforme visto no capítulo 2, frequentemente há uma ligação próxima entre o uso ilegal da força por parte da polícia e outros atos criminosos. Já se tornou rotina entre alguns policiais, por exemplo, tomarem para si armas, dinheiro e joias roubadas dos supostos traficantes durante operações na periferia, segundo contaram à Human Rights Watch policiais e moradores das favelas. A polícia chama a esse tipo de roubo de “espólio de guerra”[203].
Alguns policiais e promotores de justiça contaram à Human Rights Watch que algumas execuções extrajudiciais estão ligadas à prática de extorsão, como ilustrado pelos exemplos dados pelo investigador de polícia Artur e a promotora de justiça Fabíola Lovisi no capítulo 2 e pelo caso abaixo[204].
- Em 2008, um batalhão da polícia militar sequestrou um traficante de drogas durante uma operação de larga escala no Complexo do Alemão, de acordo com “Norberto”, um soldado da polícia militar que participou da operação[205]. Ele disse que os policiais do batalhão receberam o dinheiro do resgate, mas mesmo assim mataram o traficante. Eles manipularam a cena para parecer que havia ocorrido um confronto e colocaram uma arma junto à vítima, uma arma antiga e de baixo calibre, não sendo do tipo normalmente utilizado por facções criminosas, explicou Norberto. Ele disse que os policiais nunca foram denunciados pelo homicídio. Norberto explicou que se eles tivessem libertado o traficante, seus colegas da polícia considerariam que eles eram os “reais criminosos”. Entretanto, ficar com o dinheiro do resgate e matar um traficante é visto como algo positivo, como “trabalho de polícia”. Apesar de ele não concordar com o comportamento do grupo, Norberto disse que não os recrimina por suas ações. “Para mim, no fundo, no fundo, é menos um bandido”, ele disse.
O Impacto das Execuções Extrajudiciais na Segurança Pública
Em 2008, a cidade do Rio de Janeiro começou a experimentar uma nova abordagem de segurança pública que se baseava menos em incursões policiais armadas e outros tipos de operacões em favelas e procurava manter nelas uma presença policial constante. Nos anos seguintes, o estado estabeleceu as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) em diversas favelas e complexos. As UPPs buscam retomar o controle dos territórios das mãos de traficantes de drogas, estabelecer uma “parceria” entre a polícia e a comunidade e permitir que o estado possa fornecer serviços básicos no local – de saneamento básico a saúde e educação[206]. Mais de 9.000 policiais trabalham atualmente em 38 UPPs[207].
O progresso inicial das UPPS
De 2008 a 2013 os homicídios cometidos pela polícia tiveram uma queda de 63 por cento em todo estado e de 86 por cento nas comunidades que receberam as UPPs[208]; homicídios em geral tiveram uma queda de 17 por cento em todo estado e de 63 por cento nas comunidades com UPPs[209]. De acordo com moradores e policiais entrevistados pela Human Rights Watch, a queda nos homicídios cometidos pela polícia em parte refletiu um
novo comportamento da polícia nas favelas. Em vizinhanças com UPPs, a polícia parou de realizar operações no modelo militar com tropas utilizando armamento pesado que geralmente terminavam em mortes. Essas operações tinham resultados muito questionáveis do ponto de vista da segurança pública, já que não dissolviam as estruturas criminosas e os territórios continuavam a ser controlados por facções após a saída da polícia[210].
“A maior conquista da UPP foi nos proteger da polícia“, um morador do Morro da Providência disse à Human Rights Watch. “A gente não tem mais um grupo de extermínio subindo a favela e matando gente”, ele adicionou[211].
As UPPs começam a desmoronar
Apesar do progresso inicial, as deficiências das UPPs logo ficaram aparentes. Os moradores começaram a ficar frustrados com a falha do estado em entregar os serviços que haviam sido prometidos como parte do trabalho das UPPs. Policiais militares e comandantes reclamavam da rápida expansão do projeto – o que reduziu o número de policiais alocados em cada UPP[212] — e também da verificação deficiente do histórico dos novos recrutas, já que alguns eram conhecidos criminosos antes de ingressarem na polícia[213].
Talvez o fracasso mais evidenteda nova abordagem de segurança pública do estado tenha sido sua incapacidade de resolver o problema da falta de responsabilização criminal pelos abusos policiais. Dado o clima de impunidade, não foi surpresa que ocorressem eventualmente execuções extrajudiciais cometidas por policiais em favelas em que as UPPs operavam - incidentes que minavam enormemente a confiança que as UPPS queriam construir, de acordo com moradores e comandantes da polícia[214].
Um momento decisivo para a deterioração da confiança de muitas das comunidades nas UPPs foi o caso de Amarildo de Souza, um trabalhador da construção civil de 47 anos que desapareceu depois de ter sido levado pela polícia para a UPP da favela da Rocinha em julho de 2013. O caso poderia ter passado despercebido, porém coincidiu com uma onda de protestos por um governo melhor. Os manifestantes adotaram o caso Amarildo como uma causa adicional, o que atraiu intensa atenção da mídia. Logo surgiram provas de que
os policiais, autorizados por seu comandante, haviam torturado Amarildo até a morte dentro da UPP[215]. Seu corpo nunca foi encontrado.
O caso Amarildo foi seguido por outros supostos casos de execução e tortura nas UPPs, o que tornou tensa a relação com as comunidades. A Human Rights Watch encontrou relatos na mídia sobre 14 mortos pela polícia em 2014 e 2015, que davam conta de que as perícias contradiziam os relatos dos policiais da UPP sobre as circunstâncias dessas mortes, ou casos em que testemunhas afirmaram que a polícia havia executado suspeitos ou ainda que havia forjado provas incriminatórias, incluindo a implantação de armas e drogas nos corpos das vítimas[216].
Depois de uma queda vertiginosa nos anos seguintes à inauguração das UPPs em 2008, os homicídios policiais em comunidades com a presença delas aumentaram 20 por cento em 2014 e 30 por cento no primeiro semestre de 2015[217]. Os homicídios nessas áreas aumentaram 40 por cento em 2014 e 51por cento no primeiro semestre de 2015[218].
Junto com o aumento dos homicídios cometidos pela polícia, também houve o aumento deoutros crimes, como extorsão, roubo e a coleta de propinas[219]. "Os moradores estão acostumados a ver polícia só fazer a coisa errada, como pegar dinheiro e sequestrar", disse o Major Marcio Rodrigues, comandante da UPP na favela da Mangueira. “Aí vem as UPPs com uma proposta de mudança, de polícia de proximidade, mas quando o morador vê a polícia fazendo o mesmo que antes, você perde a confiança dele”[220].
O aumento dos homicídios cometidos por policiais alocados em UPPs tornou mais difícil à polícia contar com a colaboração da comunidade, denunciando crimes, prestando informações sobre os mesmos e servindo como testemunhas. Quando a polícia não dava o exemplo, tornou-se difícil pedir aos cidadãos para denunciarem os criminosos em seu meio[221].
Os traficantes se aproveitaram do aumento do isolamento das UPPs para reconquistar seu território[222], e os moradores ficam agora presos no meio do fogo cruzado entre os dois lados. Nas três regiões com UPPs visitadas pela Human Rights Watch em novembro e dezembro de 2015, encontramos áreas sobre as quais a polícia não tem mais controle[223]. A Human Rights Watch passou por jovens carregando fuzis abertamente no Complexo do Alemão.
A implantação de três UPPs no Complexo do Alemão, considerada a sede do Comando Vermelho, inicialmente levou a uma diminuição acentuada da violência no local. "Foram dois anos sem um tiro", lembra Vera, moradora e ativista[224]. Mas as condições logo pioraram. Um fator que contribuiu, Vera afirmou, é que o comando da polícia militar substituiu os comandantes da UPP que tinham construído uma boa relação com a comunidade. A criminalidade policial aumentou e as relações se deterioraram rapidamente. Hoje, confrontos entre policiais e traficantes de drogas acontecem quase diariamente, disse Vera. A desconfiança entre moradores e policiais no Complexo do Alemão parece ter aberto espaço para os traficantes recuperarem influência e território. Moradores disseram que agora eles têm medo de serem vistos falando com a polícia por medo de que os traficantes os matem, um problema que alguns policiais confirmaram para a Human Rights Watch[225].
A quebra da confiança entre a polícia e a comunidade em torno das UPPs beneficiou criminosos e policiais corruptos, de acordo com moradores da favela e policiais. Os criminosos encontraram uma oportunidade de recuperar parte do território que perderam quando as UPPS foram implementadas.
Quando os comandantes têm contato próximo com a comunidade, os moradores mandam dicas sobre a atividade de policiais corruptos, e isso é menos comum quando a confiança está abalada, disse o policial militar Ronaldo[226].
V. O Uso da Força Letal nos Termos da Legislação Brasileira e Internacional
As obrigações internacionais do Brasil
Execuções sumárias, extrajudiciais ou arbitrárias são proibidas pelo direito internacional. Essas proibições são derivadas do direito à vida previsto no artigo 6º do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e do artigo 4º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH)[227].
Neste relatório usamos o termo "execução extrajudicial" para englobar todas as violações ao direito a vida perpetradas por agentes públicos responsáveis pela aplicação da lei, incluindo não só os homicídios dolosos, mas também as mortes produzidas pelo uso excessivo de força. Conforme o Relator Especial da ONU sobre Execuções Extrajudiciais, Sumárias ou Arbitrárias disse em um relatório de 2009 sobre o Brasil, “As execuções extrajudiciais são cometidas por policiais que assassinam em vez de prender suspeitos de cometerem crimes, e também durante os confrontos em larga escala no policiamento estilo de ‘guerra’, no qual o uso excessivo de força resulta nas mortes de suspeitos de cometerem crimes e de pessoas na proximidade”. A força usada para a aplicação da lei é considerada excessiva quando se violam os princípios da necessidade absoluta ou da proporcionalidade, tal como interpretado nos Princípios Básicos da ONU sobre a Utilização da Força e de Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei (artigos 4º, 5º, 7º e 9º) e o Código de Conduta da ONU para Agentes da Lei (artigo 3º)[228].
Os Princípios das Nações Unidas sobre a Prevenção Eficaz e Investigação das Execuções Extrajudiciais, Arbitrárias e Sumárias afirmam que "execuções extrajudiciais, arbitrárias e sumárias" não podem ser cometidas "sob quaisquer circunstâncias." De acordo com os princípios, os governos "devem proibir ordens de oficiais superiores ou autoridades públicas que autorizem ou incitem outras pessoas a conduzirem execuções extralegais, arbitrárias ou sumárias. Todas as pessoas têm o direito e o dever de desafiar tais ordens. "Os princípios também afirmam que o treinamento de agentes da lei deve enfatizar esses deveres e proibições[229].
O Brasil tem o dever de garantir que as execuções extrajudiciais sejam devidamente investigadas. A Corte Interamericana afirmou que "em casos de execuções extrajudiciais, é essencial para o Estado que se investigue com eficácia a privação do direito à vida e que os responsáveis sejam punidos, especialmente quando agentes do Estado estão envolvidos, já que não fazê-lo criaria, dentro de um ambiente de impunidade, as condições para que tais eventos se repitam...”[230]. Uma investigação eficaz é aquela que é "completa, imediata e imparcial”[231]. Ela deve ser capaz de levar a uma conclusão se a força usada foi ou não justificada à luz das circunstâncias e na identificação e punição dos responsáveis[232]. As autoridades também devem fornecer às vítimas informações sobre as investigações das violações[233].
Os Princípios das Nações Unidas sobre a Prevenção Eficaz e Investigação das Execuções Extrajudiciais, Arbitrárias e Sumárias também fornecem orientações sobre como realizar investigações adequadas. Por exemplo, eles sustentam que os investigadores devem recolher e analisar “todas as provas materiais e documentais, e declarações de testemunhas”[234]. O documento também diz que “quem realiza a autópsia deve ser capaz de trabalhar de forma imparcial e independentemente de quaisquer pessoas, organizações ou entidades potencialmente implicadas...”[235].
Além disso, os princípios estabelecem que os governos devem fornecer "compensação justa e adequada dentro de um período razoável de tempo" para as famílias das vítimas de execuções extrajudiciais[236].
Além disso, o direito internacional aplicável ao Brasil proíbe a tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou tratamento degradante ou punição em todas as circunstâncias[237]. Os governos têm a obrigação de garantir "investigações imediatas e imparciais" de possíveis casos de tortura[238].
O Uso da Força Letal na Legislação Brasileira
A legislação brasileira limita o uso da força pela polícia à “moderação no emprego dos meios necessários” em reação a uma "injusta agressão, atual ou iminente," contra o agente ou outra pessoa[239]. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.
O comando da polícia militar do Rio de Janeiro editou duas Instruções Normativas em um esforço para manter suas forças em conformidade com as leis internacionais e brasileira sobre o uso de força letal. A primeira, em 1983, rejeitou especificamente uma tradição que apontava o policial como um “caçador” de criminosos. A norma estabeleceu que o “ataque injusto” citado na legislação brasileira deve envolver uma “ameaça real” contra a vida do agente ou à vida de outras pessoas. Também proibiu tiros de advertência para impedir a fuga, a menos que a pessoa em fuga represente um risco de lesão ou morte para os outros[240].
Em outubro de 2015, o comandante geral da polícia militar do Rio de Janeiro emitiu uma nova Instrução Normativa que substituiu as regras de 1983. Sob a nova regra, o uso de uma arma de fogo em legítima defesa - ou em resposta a um suspeito que usa uma arma letal em resistência à prisão - deve ser “excepcional e nunca exceder o estritamente necessário. ” A alteração também reafirma a proibição de tiros de advertência e tiros para impedir a fuga, e acrescenta um procedimento a ser seguido “em todos os casos”, antes de um oficial abrir fogo:
Em primeiro lugar, o oficial deve identificar-se como um policial. Em segundo lugar, o oficial deve dar um aviso claro antes de disparar, com tempo suficiente para que a pessoa o compreenda, contanto que dar o aviso não represente um "risco desnecessário" para o policial ou outra pessoa[241].
Este procedimento se alinha com o princípio 10 dos Princípios Básicos sobre a Utilização da Força e de Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei[242].
Recomendações
Desde o lançamento do relatório Força Letal em 2009, o Rio de Janeiro implementou várias medidas ambiciosas e inovadoras destinadas a melhorar a eficiência e o profissionalismo de seu policiamento. Essas incluem o programa UPP discutido no capítulo 4, bem como o Sistema de Metas e Acompanhamento de Resultados, um programa que busca a compilação e o monitoramento das estatísticas criminais, o estabelecimento de metas de redução da criminalidade para cada Área Integrada de Segurança Pública (AISP) proporcionando premiações financeiras na forma de bônus para todos os policiais das áreas que alcançarem essas metas.
Estas iniciativas podem ter contribuído significativamente para a diminuição dos homicídios cometidos pela polícia, juntamente com a queda dos homicídios em geral - entre 2009 e 2013[243]. No entanto, o seu impacto tem sido severamente enfraquecido pelo fracassodo estado em resolver um dos principais fatores responsáveis por perpetuar o uso ilegal de força letal pela polícia: a impunidade. A diminuição dos homicídios policiais foi interrompida em 2013, e os números, desde então, voltaram a subir drasticamente, aumentando em mais de 50 por cento nos últimos dois anos[244].
Diversas instituições do Estado dividem a responsabilidade pela contínua impunidade, incluindo a polícia militar por não garantir que seus agentes preservem as provas que a polícia civil precisa para determinar a legalidade do uso da força letal pela polícia e a própria polícia civil por não realizar investigações adequadas. A responsabilidade principal por esse fracasso, no entanto, é do Ministério Público do estado, por não exercer o controle externo da atividade policial com o vigor apropriado, fracassandona condução de suas próprias investigações nos casos de execuções extrajudiciais e na persecução penal dos casos em que as evidências eram suficientes para tanto.
Todas as três instituições recentemente tomaram medidas positivas para superar esse fracasso. Todavia, essas medidas ainda estão muito aquém do que é necessário para acabar com a impunidade pelas execuções extrajudiciais e acobertamentos e para quebrar o ciclo de violência que tem impedido a polícia do Rio de proteger adequadamente as comunidades a que servem.
Acabar com a Impunidade nos Casos de Execuções Extrajudiciais e Acobertamentos
O Ministério Público: Grupo Especial de Promotores
O Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro deu um grande passo em dezembro de 2015 com a criação de um grupo especial no âmbito do Ministério Público do estado - chamado Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP) - para investigar possíveis execuções extrajudiciais e outras ilegalidades praticadas pela polícia, bem como práticas abusivas no âmbito das prisões[245].
A existência de um grupo especializado em casos dessa natureza, ocorridos em todo estado, traz diversos benefícios muito importantes, quais sejam: os membros do grupo passam a desenvolver um conhecimento mais apurado sobre as dimensões fática e legal desse tipo de caso; passam a ter condições de analisar os padrões de abuso e reconhecer os modi operandi; como também passam a poder identificar e investigar batalhões de polícia específicos e policiais que individualmente sejam responsáveis por um grande número de homicídios.
A fim de ter um impacto significativo, o GAESP terá de adotar medidas que o Ministério Público do estado tem, até agora, fracassado em tomar. Como por exemplo:
- Visitar o local onde ocorreram os homicídios cometidos por policiais.
Os membros do GAESP devem visitar o local dos homicídios cometidos pela polícia acompanhados de peritos criminais imediatamente após o incidente e participar das reconstituições das cenas do crime (reprodução simulada dos fatos) efetuadas pela polícia civil.
- Investigar e denunciar acobertamentos.
Os promotores de justiça do GAESP devem realizar investigações robustas e denunciarem não apenas as execuções extrajudiciais perpetradas pela polícia, mas também todos os esforços para encobri-las.
- Exercer o controle externo da atividade policial de maneira eficaz sobre as investigações da polícia civil.
Os promotores de justiça do GAESP devem responder às falhas investigativas cometidas pelapolícia civil, de acordo com sua natureza e gravidade, exercendo pressão institucional, alertando a corregedoria da polícia civil para proposição de ações disciplinaresou promovendo ações penais contra os responsáveis.
O GAESP atualmente enfrenta várias limitações graves que podem impedi-lo de cumprir essas funções e de fazer progressos na investigação de homicídios cometidos pela polícia. Para a nova unidade ser bem-sucedida, o Procurador-Geral de Justiça terá de adotar as seguintes medidas cruciais:
- Designar mais promotores de justiça para o GAESP.
O grupo não dispõe atualmente de promotores de justiça em número suficiente para investigar as centenas de casos acumulados de homicídios cometidos pela polícia e as centenas de novos casos que ocorrem a cada ano.[246]Em junho de 2016, o GAESP recebeu apenas cinco promotores de justiça para lidar com estes casos,[247] cujas funções são cumuladas com casos de outra natureza[248]. Quatro deles atuam na Justiça comum e um na Auditoria Militar. O Procurador-Geral deve designar mais promotores de justiça para o GAESP e/ou ter um número significativo de membros do grupo trabalhando exclusivamente para o GAESP.
- Fornecer ao GAESP apoio técnico de peritos criminais.
Os promotores de justiça do GAESP - como todos os outros promotores de justiça do Rio – podem solicitar o auxílio de um Grupo de Apoio Tecnico Especializado (GATE) do Ministério Público do Rio de Janeiro, para prestar apoio técnico em suas investigações. No entanto, o GATE não possui técnicos forenses com experiência em elementos-chave das investigações de homicídios, como análise da cena do crime e balística[249]. A ausência de especialização limita severamente a capacidade do GAESP em realizar suas próprias investigações de homicídios cometidos pela polícia, pois eles têm que confiar em peritos da polícia civil.
- Buscar o comprometimento da polícia civil em informar o GAESP, em até 24 horas, a ocorrência de homicídios cometidos pela polícia.
O Ministério Público do estado não buscou implementar a resolução de setembro de 2015 do Conselho Nacional do Ministério Público que determina que apolícia civil informe o Ministério Público sobre os homicídios cometidos pela polícia dentro de 24 horas[250]. Como resultado, e como um promotor enfatizou, muitas vezes essa comunicação somente chega 30 ou mais dias após a ocorrência do fato[251]. Nesse momento, é tarde demais para monitorar as fases iniciais e cruciais da investigação conduzidas pelapolícia civil.
- Garantir aos promotores do GAESP competência concorrente nos casos de homicídios cometidos pela polícia.
De acordo com a Resolução de 2015, que criou o GAESP, os promotores de justiça do grupo não podem investigar um caso de homicídio policial a menos que sejam solicitados a fazê-lo pelo promotor com a competência originária para investigação do caso, o chamado "promotor natural"[252]. (O "promotor natural" em casos de homicídio pode ser o promotor responsável pela área geográfica onde o crime ocorreu ou um promotor responsável por casos investigados pela divisão de homicídios da polícia civil.) A lei brasileira proíbe que um caso saia das mãos do "promotor natural", mas não exclui um promotor adicional de investigar o caso. Para evitar que o GAESP seja impedido de investigar casos pelos próprios promotores justiça que durante anos não conseguiram investigar esses casos adequadamente, o Procurador-Geral de Justiça deve atribuir aos promotores do GAESP competência concorrente nos casos de homicídio cometido pela polícia, para que eles possam prosseguir com investigações sem depender da manifestação do promotor natural.
A Polícia Civil
A polícia civil deu um passo importante em 2016 ao começar a atribuir casos de homicídios cometidos pela polícia às suas três Divisões de Homicídios. Anteriormente, essas divisões especializadas tratavam apenas de casos de grande comoção, enquanto que a grande maioria de casos como aqueles ficava na jurisdição das delegacias não especializadas (“da área”).
Os investigadores de delegacias não especializadas foram responsáveis pela maior parte das falhas nas investigações documentadas no capítulo 3: não visitar a cena do crime, não dispor de peritos criminais para conduzir a análise da cena do crime, não buscar e entrevistar testemunhas e não realizar entrevistas adequadas com policiais.
Dos 64 casos analisados pela Human Rights Watch, nove foram conduzidos por uma divisão de homicídios, e suas investigações foram mais aprofundadas. Nestes casos, a polícia civil entrevistou testemunhas que não faziam parte da força policial e contou com peritos criminais conduzindo as análises da cena do crime em todos os nove casos, o que levou à reconstituição da cena do crime em oito deles. Já os investigadores das delegacias não especializadas entrevistaram testemunhas de fora da polícia em apenas 14 dos 55 casos, realizaram a análise da cena do crime em cinco, e fizeram a reconstituição da cena do crime emdois casos.
As investigações feitas pelas divisões de homicídios levaram a denúncias por parte do Ministério Público em oito dos nove casos (a resolução do nono caso, envolvendo um homicídio que ocorreu em 2015, continua pendente.) Em contraste, apenas 12 dos 55 casos investigados pelas delegacias regionais resultaram na propositura de ações penais.
Uma das razões para esta disparidade no desempenho e no resultado pode ser a atenção pública atraída pelos casos tratados pelas divisões de homicídios[253], ocasionando uma pressão popular maior em prol da resolução dos casos. No entanto, de acordo com investigadores da polícia e promotores de justiça, há várias razões para que as divisões de homicídios sejam mais aptas a investigar casos de homicídios cometidos pela polícia. Uma delas é que os investigadores das divisões têm mais experiência nessa área, enquanto os investigadores de delegacias não especializadas muitas vezes possuem pouca ou nenhuma. Outra razão é que os investigadores das divisões de homicídio e peritos criminais ficam lotados nas mesmas delegacias e sempre vão juntos à cena do crime. A terceira é que as divisões de homicídios têm mais recursos para conduzir investigações do que as delegacias não especializadas[254].
No início de 2016, os investigadores das divisões de homicídios começaram a lidar com todos os casos envolvendo homicídios cometidos pela polícia em várias áreas da cidade do Rio de Janeiro[255]. Este é um bom começo, dado o maior conhecimento e seu histórico de investigação desse tipo de caso. No entanto, a polícia civil ainda deve tomar as seguintes medidas adicionais para maximizar o impacto desta nova política:
- Melhorar a qualidade das investigações das divisões de homicídios.
Embora as investigações conduzidas pelas divisões de homicídios sejam melhores do que as realizadas pelas delegacias não especializadas da polícia, a Human Rights Watch identificou vários aspectos que ainda podem ser aperfeiçoados. Um deles é instruir peritos criminais a recolher o máximo de provas físicas possíveis no local da troca de tiros, incluindo o tecido sob as unhas e qualquer resíduo de pólvora nas mãos da vítima. Atualmente, esses testes são feitos somente quando o corpo chega ao Insituto Médico Legal, mas há uma chance de se perderem ou serem alterados no caminho [256]. Peritos criminais também devem incorporar ao caso as fotos da cena do crime, dos ferimentos sofridos pela vítima e qualquer outra evidência.
- Alertar o GAESP imediatamente sobrecasos de homicídios cometidos
pela polícia Considerando que as primeiras horas e dias são cruciais para que a investigação de homicídio tenha sucesso, os investigadores das divisões de homicídios devem informar ao GAESP acerca dos homicídios cometidos pela polícia assim que souberem da informação ou no máximo dentro das próximas 24 horas. Isso permitiria que os promotores do GAESP pudessem visitar a cena do crime, enquanto peritos criminais realizam a análise da mesma.
- Investigar evidências de acobertamento por parte da polícia.
As divisões de homicídios devem investigar a fundo as evidências de acobertamento em todos os casos de homicídios policiais. Mesmo nos casos em que pode ser difícil provar uma execução extrajudicial, um inquérito rigoroso e rápido pode reunir indícios de que os policiais alteraram a cena do crime. A investigação e julgamento destas técnicas de acobertamento poderiam servir como um poderoso elemento de dissuasão para os policiais que de alguma forma venham a participar do acobertamento de crimes violentos praticados por seus colegas.
- Ampliar a política para cobrir todos os casos de homicídio cometido pela polícia no estado.
Em abril de 2016, as divisões de homicídios foram responsáveis por investigar casos de homicídios cometidos pela polícia ocorridos nas áreas de sete dos 39 batalhões da polícia militar do Estado do Rio. Considerando que investigações dessa natureza são conduzidas de maneira mais minuciosa por estas divisões, se comparadas com as realizaas pelas delegacias não especializadas, elas devem tratar de todos os casos de homicídios cometidos pela polícia ocorridas no estado. Para isso, as divisões de homicídios precisarão de recursos adicionais, além de ampliar seu alcance para o interior do estado.
A Polícia Militar
Em junho de 2016, a polícia militar do Rio iniciou um projeto-piloto para equipar a polícia com câmeras acopladas ao colete, lançado em conjunto com o Instituto Igarapé (organização não-governamental) e a Jigsaw (uma incubadora de tecnologia criada pela Google). A iniciativa é chamada de "Smart Policing" e faz o acompanhamento das atividades de patrulhamento de policiais por meio do "CopCast", um aplicativo de código aberto instalado em smartphones.
Os telefones gravam e armazenam vídeo e áudio juntamente com as coordenadas GPS de localização dos policiais enquanto eles estão em patrulha. Esse conteúdo pode ser transmitido ao vivo onde quer que haja cobertura wi-fi ou conexão 4G/3G, permitindo que os comandantes possam monitorar patrulhas em tempo real. Os telefones são posicionados sobre um bolso do colete e configurados para gravar em todos os momentos. Os oficiais podem interromper temporariamente a gravação quando necessário para proteger a sua privacidade ou a de terceiro, mas devem apresentar uma justificativa para a interrupção.
O uso das câmeras acopladas ao corpo usadas pelos policiais durante sua patrulha pode desempenhar um papel fundamental na redução da impunidade nos casos de execuções extrajudiciais perpetradas por policiais. O vídeo e o áudio gravados antes, durante e depois de um confronto podem fornecer à polícia civil e aos promotores de justiça, informações extremamente valiosas para determinar se o uso da força era legal, se a o depoimento dos polciais condiz com a realidade, se houve alteração da cena do crime, das provas ou qualquer outra iniciativa com o objetivo de acobertar os fatos.
O uso de câmeras acopladas ao corpo também pode trazer outros benefícios importantes para os policiais. Nos casos em que o uso da força foi realizado dentro dos parâmetros legais, as gravações poderiam protegê-los de falsas acusações. Nos casos em que alguns agentes usem a força de maneira ilegal, a câmera poderia ajudar a proteger outros oficiais da pressão para participarem de um eventual acobertamento, uma vez que as gravações tornariam esses esforços inúteis.
O uso dessas câmeras tem mostrado resultados encorajadores em outros países. Nos Estados Unidos, estima-se que 25 por cento de todas as agências policiais já estejam usando essa tecnologia[257]. O Reino Unido tem planos para equipar mais de 22.000 policiais com câmeras até o final de 2016[258]. Um estudo de 2011 em duas cidades da Escócia verificou o declinio substancial des crimes e ataques contra policiais nas áreas onde os agentes estavam equipados com câmeras[259].
Um estudo de 2014 realizado por mais de um ano na cidade norte-americana de Rialto, Califórnia, concluiu que em turnos em que câmeras foram utilizadas, os policiais recorreram ao uso de força metade das vezes do que nos turnos de policiais sem câmeras[260]. Da mesma forma, em San Diego, Califórnia, o uso de câmeras resultou na diminuição do uso da força pelos policiais e de reclamações de cidadãos, de acordo com dados coletados em 2014 e em janeiro de 2015 pelo departamento de polícia da cidade[261]. Também na cidade britânica de Portsmouth, o uso de câmeras resultou em uma diminuição da criminalidade e uma maior taxa de condenações em certos casos por meio do uso dos vídeos como prova[262].
- Implementar o Projeto Smart Policing em todo o estado.
Em junho de 2016, o programa piloto tinha até então envolvido apenas 60 policiais militares em quatro comunidades.[263] A polícia militar deve rapidamente avaliar os resultados do programa piloto e, com base nessa avaliação, desenvolver um plano para a implementação efetiva do projeto em todo o estado, começando pelos locais com as taxas mais altas de denúncias por homicídios cometidos pela polícia.
- Implementar protocolos e procedimentos operacionais para o uso de câmeras que promovam a transparência e ao mesmo tempo protejam a privacidade.
É extremamente importante que os protocolos e procedimentos operacionais sejam implementados e executados para que se garanta proteção contra violações injustificadas à privacidade. Como quando policias entram nas casas das pessoas ou as abordam em muitas outras situações. Ao mesmo tempo, é também importante que os policiais não possam abusar da proteção da privacidade como um pretexto para não gravar atividades de policiamento. Protocolos e procedimentos operacionais, portanto, devem encontrar um equilíbrio cuidadoso entre a proteção da privacidade e a promoção da transparência. Entre outras coisas, devem garantir a proteção da privacidade de crianças e adolescentes, a preservação da identidade de testemunhas, vítimas de estupro e de outros crimes sensíveis, e, ao mesmo tempo, limitar as circunstâncias nas quais os agentes podem desligar a câmera[264]. O Instituto Igarapé tem trabalhado com o comando da polícia militar para definir e implementar esses protocolos e procedimentos operacionais [265].
O Congresso Nacional
O problema das execuções extrajudiciais cometidas pela polícia e seus acobertamentos não é exclusivo do estado do Rio de Janeiro. A Human Rights Watch e outros grupos têm documentado um padrão semelhante de abuso e impunidade em São Paulo[266]. Dados oficiais mostram que houve 584 homicídios cometidos pela polícia no Rio de Janeiro, 965 em São Paulo e mais de 1.400 casos semelhantes no resto do país em 2014, o último ano para o qual dados nacionais estão disponíveis[267]. Em resumo, o problema da violência policial, ainda que particularmente pronunciada no Rio de Janeiro, é de âmbito nacional. Dessa forma, a questão demanda uma resposta nacional.
- Aprovar leis que estabeleçam protocolos para a investigação de homicídios cometidos pela polícia.
O Congresso brasileiro deve aprovar o Projeto de Lei 4471/2012, que exige que as autoridades estaduais tomem medidas para melhorar as práticas de investigação em casos de homicídios decorrentes de intervenção policial[268]. A proposta de lei exige que a polícia civil informe imediatamente o Ministério Público e a Defensoria Pública sobre a instauração de inquéritos destinados a apurar fatos desta natureza. A lei obrigaria peritos criminais a fotografarem ferimentos das vítimas na cena do crime e adicionar essas fotos aos autos do procedimento investigatório, algo que normalmente não é feito no Rio de Janeiro. A lei também exigiria que os peritos criminais conduzissem a análise da cena do crime, mesmo que o corpo da vítima tenha sido removido. Além disso, a lei exigiria que as autoridades informem o resultado da autópsia à família da vítima.
Melhorar as Condições de Trabalho da Polícia Militar
A Secretaria de Segurança Pública do governo do estado do Rio de Janeiro deve tomar medidas para lidar com os altos níveis de estresse experimentado por policiais. Como discutido no capítulo 4, a exposição à violência pode ter um alto impacto sobre o bem-estar psicológico dos policiais. Elevados níveis de medo e estresse podem prejudicar o seu desempenho profissional e ajudar a alimentar o ciclo de violência e impunidade descrita neste relatório.
Policiais e comandantes relataram à Human Rights Watch uma série de outros fatores que contribuem para altos níveis de stress. Estes incluem, entre outros, jornadas de trabalho que podem causar grave privação de sono, um regulamento disciplinar arcaico que deixa
os policiais vulneráveis ao tratamento arbitrário e abusivo por parte de seus superiores[269] e infraestrutura e equipamentos deficientes.
- Oferecer apoio psicológico aos policiais após confrontos.
Depois de participar ou testemunhar um confronto que resultou numa morte ou ferimento grave, os policiais devem ser retirados imediatamente do patrulhamento ostensivo e receberem atendimento psicológico. Dado o estigma associado à busca de apoio psicológico, este aconselhamento deve ser obrigatório. Assistência psiquiátrica adequada também deve ser disponibilizada aos policiais que necessitarem.
- Identificar e tratar outros fatores que causam estresse excessivo aos policiais.
A Secretaria de Segurança Pública do governo do estado do Rio de Janeiro deve criar uma força-tarefa independente para identificar, avaliar e propor políticas para lidar com outras possíveis fontes de estresse excessivo que afetam a saúde mental e o desempenho profissional dos policiais.
Agradecimentos
Este relatório foi pesquisado e escrito por César Muñoz Acebes, pesquisador sênior da Human Rights Watch Brasil. Ele foi revisto e editado por Daniel Wilkinson, diretor da divisão das Américas; Margaret Knox, editora sênior/pesquisadora; Dan Baum, editor sênior/pesquisador; Maria Laura Canineu, Diretora Brasil; Diederik Lohman, diretor do Programa de Saúde e Direitos Humanos; Christopher Albin-Lackey, assessor jurídico sênior; e Joseph Saunders, Vice-Diretor do programa. As estagiárias Andrea Carvalho e Eliza Fagundes auxiliaram a investigação, e a estagiária Pamela Bassi auxiliou com o design gráfico. Assistente Kate Segal e coordenador Hugo Arruda auxiliaram na edição e logísitica. O relatório foi preparado para publicaçã de publicações, e Olivia Hunter, assistente de publicações.
Gostaríamos de agradecer aos familiares das vítimas e policiais que conversaram conosco, assim como representantes do governo e outros indivíduos que forneceram informações para este relatório. Estamos também muito gratos a Paulo Roberto Cunha, Alexandre Themístocles de Vasconcelos, Fabiola Lovisi, Glaucia Maria da Costa Santana, Leonardo Silva, João Tancredo, Antônio Pedro Soares, Ignacio Cano, Pedro Strozenberg, Fábio Amado. Damian Platt. Robert Muggah, Illona Szabó e Julita Lemgruber. Além disso, gostaríamos de agradecer a grupos da sociedade civil que nos ajudaram a produzir este relatório, especialmente à Rio da Paz, Anistia Internacional, Coletivo Papo Reto, Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, Movimento Moleque, Witness e Justiça Global.