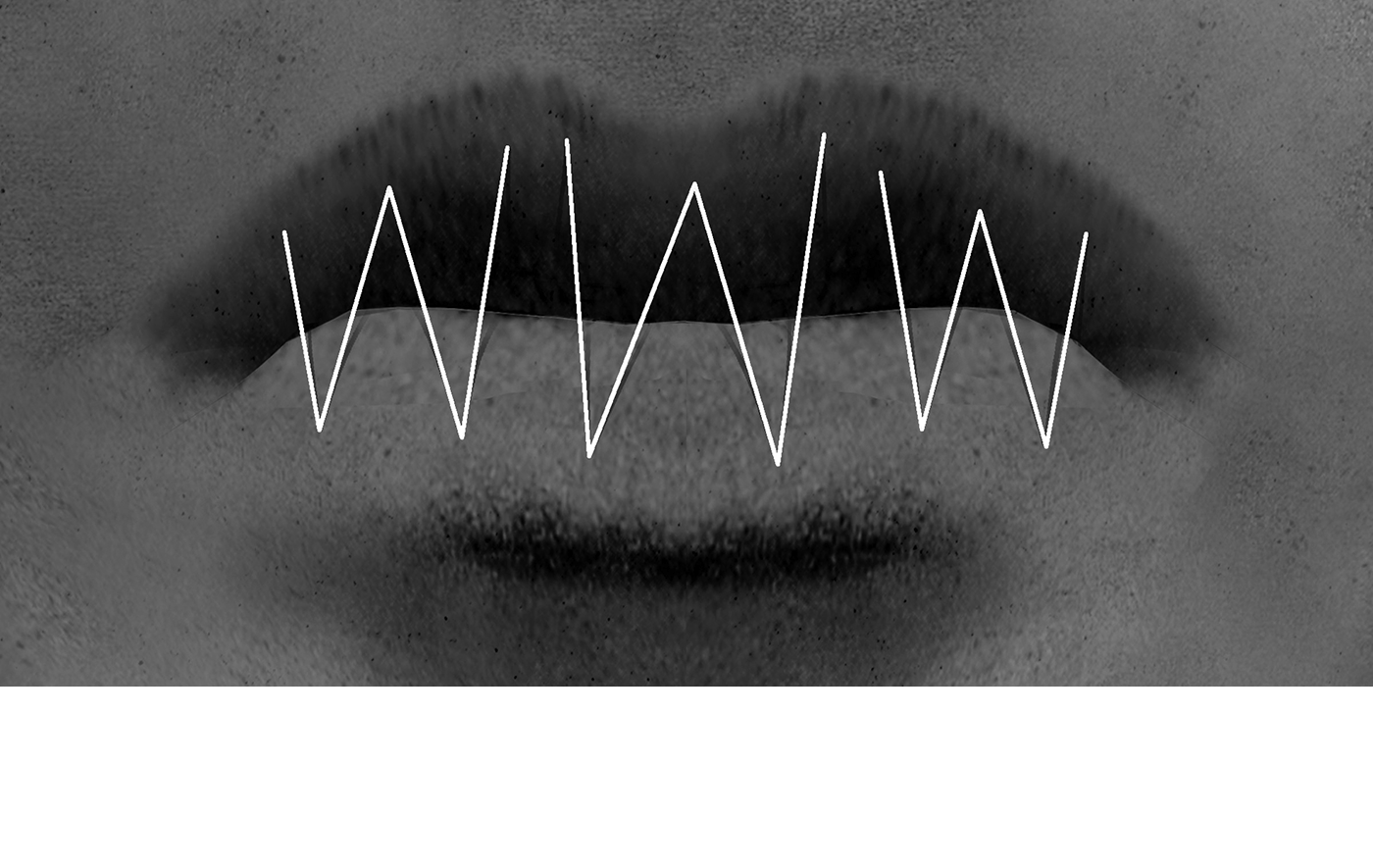Os direitos humanos existem para proteger as pessoas contra o abuso e a negligência do governo. Os direitos limitam o que um Estado pode fazer e impõem obrigações sobre como um Estado deve agir. No entanto, hoje uma nova geração de populistas está mudando completamente essa proteção. Afirmando que falam pelo “povo”, eles tratam os direitos como um obstáculo a sua concepção do que seria a vontade da maioria, um obstáculo desnecessário à defesa da nação daquilo que eles enxergam como ameaças e forças do mal. Em vez de adotar os direitos como uma proteção para todos, eles privilegiam os interesses declarados da maioria, encorajando as pessoas a adotar a crença perigosa de que nunca precisarão reivindicar direitos contra um governo que diz estar agindo em seu nome.
O poder de atração dos populistas aumentou por causa da crescente insatisfação pública com o status quo. No Ocidente, muitas pessoas se sentem deixadas para trás pelas mudanças tecnológicas, pela economia global e pela crescente desigualdade. Atos terríveis de terrorismo geram apreensão e medo. Alguns sentem desconforto com sociedades que se tornaram mais diversas étnica, religiosa e racialmente. Há uma crescente sensação de que os governos e a elite ignoram as preocupações da população.
Nesse caldeirão de descontentamento, certos políticos estão florescendo e até ganhando apoio ao tratarem os direitos como algo que protege apenas os suspeitos de terrorismo ou refugiados em detrimento da segurança nacional, do bem-estar econômico e das preferências culturais da suposta maioria. Eles usam os refugiados, as comunidades de imigrantes e as minorias como bode expiatório. A verdade é uma vítima frequente. O nacionalismo, a islamofobia, o racismo e a xenofobia estão em ascensão.
Essa tendência perigosa ameaça reverter os progressos feitos pelo movimento moderno dos direitos humanos. Nos seus primeiros anos, esse movimento estava preocupado com as atrocidades da Segunda Guerra Mundial e a repressão associada à Guerra Fria. Tendo visto o mal que os governos podem fazer, os Estados adotaram uma série de tratados de direitos humanos para limitar e deter abusos futuros. Proteger esses direitos era algo visto como necessário para que os indivíduos vivessem com dignidade. O crescente respeito aos direitos estabeleceu as bases para sociedades mais livres, seguras e prósperas.
Hoje, porém, um número crescente de pessoas passou a ver os direitos não como uma forma de protegê-las do Estado, mas como forma de prejudicar os esforços governamentais para defendê-las. Nos Estados Unidos e na Europa, no topo da lista do que é considerado ameaça está a migração, onde preocupações sobre identidade cultural, oportunidades econômicas e terrorismo se cruzam. Encorajado pelos populistas, um crescente número de pessoas vê os direitos como algo que protege apenas essas “outras” pessoas, e não elas mesmas – e, portanto, acabam enxergando esses direitos como dispensáveis. Os populistas sugerem que se a maioria quer limitar os direitos de refugiados, migrantes ou minorias, ela deve ser livre para fazê-lo. O fato de tratados e instituições internacionais estarem no caminho só intensifica essa antipatia pelos direitos em um mundo onde o nacionalismo é muitas vezes mais valorizado que o globalismo.
Talvez seja parte da natureza humana o fato de ser mais difícil se identificar com pessoas que são diferentes, e mais fácil aceitar a violação de direitos delas. As pessoas se consolam no perigoso pressuposto de que a aplicação seletiva dos direitos é possível, isto é, que os direitos dos outros podem ser comprometidos desde que os delas próprias permaneçam protegidos.
Mas os direitos por sua natureza não admitem uma abordagem “à la carte”. Você pode não gostar de seus vizinhos, mas se você sacrificar os direitos deles hoje, estará arriscando seus próprios direitos amanhã, porque, em última instância, os direitos são fundamentados no dever recíproco de tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Violar os direitos de alguns é ruir a construção de direitos que inevitavelmente serão necessários para defender membros da suposta maioria em cujo nome as violações ocorrem hoje.
Às custas de nossa própria segurança, esquecemos os demagogos do passado — os fascistas, os comunistas, e outros semelhantes que alegavam ter uma visão privilegiada do interesse da maioria, mas que acabaram esmagando as liberdades individuais. Quando os populistas tratam os direitos como um obstáculo à sua visão da vontade da maioria, é só uma questão de tempo para que eles se voltem contra aqueles que discordam de sua agenda política. O risco aumenta muito quando os populistas atacam a independência do judiciário por este defender o Estado de Direito — ou seja, por impor limites à conduta governamental com base nos direitos.
Essas alegações de “majoritarismo” irrestrito e os ataques aos mecanismos de controle que restringem o poder de um governo são talvez o maior perigo hoje para o futuro da democracia no Ocidente.
Propagação de ameaças e respostas tépidas
Em vez de enfrentarem essa onda populista, muitos líderes políticos ocidentais parecem ter perdido a confiança nos valores dos direitos humanos, oferecendo apenas um apoio tépido. Poucos líderes estiveram dispostos a oferecer uma defesa vigorosa, com a notável exceção, em certas ocasiões, da chanceler alemã Angela Merkel, do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau e do presidente americano Barack Obama.
Alguns líderes parecem ter enterrado suas cabeças na areia, esperando que os ventos do populismo passem. Outros, quando não buscam lucrar com as paixões populistas, parecem pensar que emular o populismo pode atrapalhar sua ascendência. A primeira-ministra britânica, Theresa May, criticou os “advogados ativistas de esquerda dos direitos humanos” que se atrevem a desafiar as forças britânicas por casos de tortura no Iraque. O presidente francês, François Hollande, usou a cartilha da Frente Nacional (Front National, em francês) para tentar privar da cidadania francesa os cidadãos nascidos na França com dupla nacionalidade como parte central de sua política antiterrorista, iniciativa que ele mais tarde abandonou, demonstrando arrependimento. O governo holandês apoia as restrições dos véus que cobrem o rosto de mulheres muçulmanas. Muitos líderes europeus agora apoiam a proposta do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, de fechar as fronteiras da Europa, deixando de fora refugiados vulneráveis. Essa mímica dos populistas só reforça e legitima os políticos que atacam os valores dos direitos humanos.
Uma tendência semelhante pode ser encontrada fora do Ocidente. Na verdade, o fortalecimento de populistas no Ocidente parece ter encorajado vários líderes a intensificarem seu desrespeito aos direitos humanos. O Kremlin, por exemplo, tem defendido apaixonadamente o governo autoritário do presidente Vladimir Putin, alegando que ele não é pior que o histórico cada vez mais problemático de direitos humanos do Ocidente. Como Putin, Xi Jinping, da China, iniciou a mais dura campanha de repressão a vozes críticas ao governo vista em vinte anos. O presidente Recep Tayyip Erdoğan, da Turquia, aproveitou uma tentativa de golpe para esmagar as vozes da oposição. O presidente Abdel Fattah al-Sisi, do Egito, intensificou a repressão iniciada após seu próprio golpe. O presidente Rodrigo Duterte, das Filipinas, ordenou abertamente execuções sumárias de suspeitos de tráfico de drogas e usuários — e até mesmo de ativistas de direitos humanos que os defendem. O primeiro-ministro Narendra Modi, da Índia, tentou imobilizar organizações da sociedade civil críticas ao governo quando ignorou a intimidação e crimes de ódio perpetrados contra minorias religiosas e étnicas por grupos nacionalistas hindus.
Enquanto isso, confiante de que há pouco a temer nos ocasionais protestos do Ocidente, o presidente sírio Bashir al-Assad, apoiado pela Rússia, Irã e o Hezbollah do Líbano, rasgou as leis internacionais de guerra ao atacar implacavelmente civis em partes do país dominadas pela oposição, incluindo Aleppo oriental. Vários líderes africanos, vulneráveis a denúncias domésticas ou internacionais, criticaram severamente o Tribunal Penal Internacional e, em três casos, anunciaram sua intenção de se retirar da jurisdição do TPI.
Para combater essas tendências, é urgentemente necessária uma ampla reafirmação dos direitos humanos. A ascensão dos populistas certamente deve levar a um exame de consciência entre os políticos tradicionais, mas não a um abandono dos princípios básicos por governantes ou pela opinião pública. Governos comprometidos com o respeito aos direitos humanos servem melhor seu povo, sendo mais propensos a evitar a corrupção, o autoengrandecimento e a arbitrariedade que com tanta frequência acompanham governos autocráticos. Os governos fundados em direitos humanos estão em melhor posição para ouvir seus cidadãos e reconhecer e resolver seus problemas. E os governos que respeitam os direitos humanos são mais facilmente renovados quando as pessoas ficam insatisfeitas com sua administração.
Mas se o poder de atração do líder político opressor e as vozes da intolerância prevalecerem, o mundo corre o risco de entrar numa era de escuridão. Nunca devemos subestimar a tendência dos demagogos que sacrificam os direitos dos outros em nosso nome hoje a abandonarem nossos direitos amanhã, quando sua verdadeira prioridade — manter o poder — estiver em jogo.
A perigosa retórica de Trump
A bem-sucedida campanha de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos é uma vívida ilustração dessa política de intolerância. Às vezes abertamente, às vezes por meio de códigos e mensagens indiretas, sua mensagem ressoou no descontentamento de muitos americanos em relação à estagnação econômica e a uma sociedade cada vez mais multicultural, de uma forma que violou os princípios básicos de dignidade e igualdade. Ele estereotipou migrantes, inferiorizou refugiados, atacou um juiz por sua ascendência mexicana, zombou de um jornalista com deficiência, rejeitou múltiplas alegações de abuso sexual e prometeu reverter a capacidade das mulheres de controlarem sua própria fertilidade.
Para piorar a situação, havia também um vazio prático em grande parte de sua retórica. Por exemplo, uma grande parte de sua campanha foi construída em torno de ataques a acordos comerciais e à economia global, mas ele também acusou imigrantes indocumentados de roubarem empregos dos americanos. No entanto, a deportação em massa de migrantes que ele ameaçou colocar em ação, inclusive de muitos com vínculos estabelecidos nos EUA e um histórico de contribuir de forma produtiva para a economia, não resultará no retorno dos empregos do setor manufatureiro perdidos há tempos. O crescimento do emprego nos EUA continua aumentando e, embora exista estagnação econômica para alguns, dificilmente ela pode ser atribuída a migrantes indocumentados. O total deles, em números absolutos, não mudou significativamente nos últimos anos e eles, muitas vezes, estão dispostos a realizar trabalhos que a maioria dos cidadãos americanos não quer.
O plano do candidato Trump de combater o terrorismo de muçulmanos era igualmente fútil — até mesmo contraproducente — ao demonizar comunidades muçulmanas inteiras, cuja cooperação é importante para identificar planos de ataques futuros. Ele retratou os refugiados como um risco para a segurança nacional, embora eles sejam submetidos a um exame muito mais rigoroso que o grupo muito maior de pessoas que entram nos EUA por razões de negócios, educação ou turismo. Trump também não se demonstrou disposto a limitar medidas excessivas como a vigilância em massa de cidadãos, uma enorme invasão de privacidade que não se revelou mais eficaz que a vigilância de alvos específicos supervisionada judicialmente.
Trump até cogitou a reintrodução de técnicas de tortura, como o afogamento simulado, aparentemente ignorando o resultado que as “técnicas ampliadas de interrogatório” do presidente George W. Bush ofereceram para recrutadores terroristas. Sua descoberta tardia, após as eleições, da ineficácia da tortura depois de uma conversa com o general que mais tarde nomeou como Chefe do Departamento de Defesa oferece pouco consolo, porque Trump simultaneamente declarou estar disposto em ordenar a tortura “se for isso que o povo americano deseja”. Supostamente, ele seria o intérprete privilegiado desse desejo, ignorando as leis e os tratados que proíbem infligir esse tipo de brutalidade e dor, independentemente das circunstâncias.
A onda populista na Europa
Na Europa, um populismo semelhante buscou colocar a culpa da estagnação econômica na migração, tanto de fora como dentro da União Europeia. No entanto, aqueles que esperavam uma cessação da migração ao votar pelo Brexit [como é chamado o referendo em que os eleitores britânicos decidiram pela saída do Reino Unido da UE] — talvez a ilustração mais proeminente dessa tendência — correm o risco de piorar a situação econômica da Grã-Bretanha.
Em todo o continente europeu, governantes e políticos se agarram a tempos passados distantes – até mesmo fantasiosos – de uma suposta pureza étnica nacional, apesar de a maioria dos países contar hoje com comunidades de imigrantes estabelecidas que estão lá para ficar e cuja integração como membros produtivos da sociedade resta comprometida por conta dessa hostilidade vinda do topo. Há uma ironia trágica nas políticas anti-refugiados de alguns líderes, como Orbán, da Hungria: a Europa acolheu os refugiados húngaros da repressão soviética, mas hoje o governo de Orbán faz tudo o que pode para dificultar a vida de pessoas que fogem da guerra e da perseguição.
Nenhum governo é obrigado a admitir todos os que batem às portas de seu país. Mas o direito internacional limita o que pode ser feito para controlar a migração. As pessoas que procuram refúgio e asilo político devem passar por um processo justo e, se suas reivindicações forem consideradas válidas, devem receber proteção. Ninguém deveria ser devolvido à guerra, perseguição ou tortura. Com poucas exceções, os imigrantes que passaram muitos anos em um país ou desenvolveram laços familiares devem ser oferecidos um caminho para regularização de seu status legal. A detenção não deve ser arbitrária e os procedimentos de deportação devem dar o direito a um processo justo.
Com essas ressalvas, os governos podem barrar e mandar de volta pessoas que migraram por razões econômicas.
No entanto, contrariamente aos apelos feitos por populistas, as comunidades de imigrantes que vivem legalmente num país devem ter os seus direitos plenamente respeitados. Ninguém deve enfrentar discriminação em termos de habitação, educação ou emprego. Todos, independentemente de seu status legal, têm direito à proteção da polícia e justiça no sistema judiciário.
Os governos deveriam investir para ajudar os imigrantes a se integrarem à sociedade e participarem plenamente dela. As autoridades públicas, em particular, têm o dever de rejeitar o ódio e a intolerância dos populistas e afirmar sua convicção em tribunais independentes e imparciais encarregados de defender os direitos. Essas são as melhores formas de garantir que, mesmo enquanto as nações se tornam mais diversas, elas manterão as tradições democráticas que historicamente se provaram o melhor caminho para a prosperidade.
Particularmente na Europa, alguns políticos justificam a hostilidade em relação aos imigrantes — especialmente os muçulmanos — sugerindo que essas comunidades querem replicar a repressão de mulheres ou gays e lésbicas registrada em alguns de seus países de origem. Mas a resposta adequada a essas práticas repressivas é rejeitá-las — elas são a razão pela qual muitos imigrantes fugiram — e garantir que todos os membros da sociedade respeitem os direitos de todos os outros. A resposta não é rejeitar os direitos de um segmento da população — no clima atual, tipicamente muçulmanos — em nome da proteção dos direitos dos outros. Esse tipo de seletividade na aplicação dos direitos mina a universalidade, que é a essência dos direitos.
O crescimento do autoritarismo na Turquia e no Egito
O governo cada vez mais ditatorial de Erdoğan na Turquia ilustra os perigos de um líder que atropela os direitos em nome da maioria. Durante vários anos, ele mostrou uma tolerância cada vez menor em relação àqueles que desafiariam seus planos, seja de levantar uma construção sobre um parque no centro de Istambul ou alterar a constituição para permitir uma presidência executiva.
No ano passado, Erdoğan e seu Partido de Justiça e Desenvolvimento (AK Parti, em turco) usaram uma tentativa de golpe e suas centenas de vítimas como uma abertura para reprimir não apenas os conspiradores que, segundo alegava, teriam se associado ao clérigo exilado Fethullah Gülen, mas também a dezenas de milhares de pessoas consideradas seus seguidores. A declaração de estado de emergência tornou-se uma oportunidade para atacar também outros considerados críticos, e a maior parte da mídia independente e organizações da sociedade civil foram fechadas. Além disso, num ato de perseguição ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão, ou PKK, o governo encarcerou os líderes e parlamentares do principal partido pró-curdo no Parlamento e tirou seus prefeitos locais do poder.
Havia um amplo apoio interpartidário ao governo de Erdoğan logo após o golpe, dado o alívio coletivo que muitos na Turquia sentiram depois que a tentativa fracassou. Mas com o precedente de repressão estabelecido e a independência dos tribunais e outras instituições de direito dizimada, não havia nada que parasse a crescente perseguição promovida por Erdoğan. Poder-se-ia esperar uma resposta firme e oportuna dos líderes ocidentais, mas outros interesses, quer seja restringir o fluxo de refugiados para a Europa ou lutar contra o autodenominado Estado Islâmico, ou ISIS, muitas vezes serviram de obstáculo.
O Egito sob o governo Sisi sofreu uma evolução semelhante. Infeliz com o breve governo da Irmandade Muçulmana sob a liderança do presidente Mohamed Morsi, muitos egípcios celebraram o golpe militar que Sisi levou a cabo em 2013. Mas ele passou a governar de forma até mesmo muito mais repressiva que a longa ditadura do presidente Hosni Mubarak, derrubado durante a Primavera Árabe. Por exemplo, Sisi supervisionou a morte de pelo menos 817 manifestantes da Irmandade Muçulmana em um único dia em agosto de 2013 — um dos maiores massacres de manifestantes nos tempos modernos.
Muitos egípcios presumiram que apenas os islâmicos seriam alvo, mas Sisi supervisionou o cerceamento radical do espaço político, com grupos de direitos humanos, meios de comunicação independentes e partidos políticos de oposição sendo calados, e dezenas de milhares de presos mantidos, muitas vezes após tortura e um processo judicial limitado ou inexistente.
O superficial poder de atração de líderes autoritários
A crescente onda do populismo em nome de uma suposta maioria ocorre em paralelo a uma renovada obsessão por uma liderança política autoritária, algo visto de forma particularmente proeminente durante a campanha das eleições presidenciais dos EUA. Se tudo o que importa são os interesses declarados da maioria, como a base da argumentação parece ser, por que não abraçar o autocrata que não mostra nenhum escrúpulo em expressar sua visão “majoritária” — por mais que ela se baseie em interesses próprios — e subjugar aqueles que discordam?
Mas as paixões alimentadas pelo populismo de hoje tendem a obscurecer os perigos que enfrenta uma sociedade governada por um ditador no longo prazo. Putin, por exemplo, tem governado uma economia russa enfraquecida e atormentada pela corrupção e que fracassou em se diversificar quando os preços do petróleo estavam altos, ficando vulnerável ao declínio que se seguiu. Temendo que o descontentamento popular do tipo visto nas ruas de Moscou e várias outras grandes cidades a partir de 2011 possa reacender e se espalhar, Putin tem tomado medidas preventivas, introduzindo restrições severas à liberdade de expressão e ao direito da sociedade civil de se organizar, estabelecendo sanções novas e sem precedentes para a dissidência on-line e engessando a atuação de organizações da sociedade civil.
O Kremlin reforçou a autocracia de Putin e impulsionou sua cadente popularidade ao mobilizar o nacionalismo público em apoio à ocupação russa da Crimeia, o que desencadeou sanções da União Europeia e aprofundou o declínio econômico do país. Na Síria, o apoio militar de Putin ao massacre de civis promovido por Assad com armamentos russos tornou ainda mais remota a possibilidade de uma reversão dessas sanções como uma questão política. Até agora, os hábeis especialistas em propaganda do Kremlin tentaram apresentar justificativas para as dificuldades econômicas crescentes, alegando a necessidade de combater supostos esforços do Ocidente para enfraquecer a Rússia. No entanto, à medida que a economia continua a se deteriorar, defensores do governo enfrentam maiores dificuldades em sustentar essa mensagem aos cidadãos russos.
O presidente chinês Xi iniciou um caminho semelhante de repressão. A China desfrutou de um crescimento econômico notável, à medida que líderes anteriores liberaram economicamente o povo chinês dos caprichos do governo do Partido Comunista que levaram ao desastroso Grande Salto Adiante e à Revolução Cultural. Mas a liberalização econômica não foi acompanhada por uma reforma política, cujo início foi impedido pelo esmagamento do movimento democrático na Praça Tiananmen em 1989. Os governos subsequentes tomaram decisões econômicas guiadas principalmente pelo desejo do partido de sustentar o crescimento a qualquer custo, a fim de controlar a insatisfação do povo. A corrupção floresceu enquanto a desigualdade social escalava e o ambiente se deteriorava.
Preocupado também com o risco de que a frustração dos cidadãos aumentasse à medida que o crescimento econômico se desacelerava, Xi embarcou na campanha de repressão mais intensa desde a era de Tiananmen, reduzindo ainda mais a disposição de seu governo em prestar contas e ser responsabilizado. Apesar de dar a si mesmo uma lista cada vez maior de títulos de liderança, esse governante autoritário parece cada vez mais amedrontado, ao mesmo tempo em que não atende às demandas do povo chinês por um ar mais limpo, alimentos mais seguros, um sistema judicial justo e um governo transparente.
Tendências semelhantes caracterizaram o governo de outros autocratas. A revolução bolivariana na Venezuela, iniciada pelo já morto presidente Hugo Chávez e agora tocada por seu sucessor, Nicolás Maduro, tornou-se um desastre econômico para os segmentos mais pobres da sociedade aos quais o governo ostenta servir. Sua recompensa foi a hiperinflação, escassez aguda de alimentos e remédios, e um país com as maiores reservas comprovadas de petróleo do planeta reduzido à penúria. O governo também orquestrou ataques militares e policiais a comunidades de imigrantes e de baixa renda que levaram a inúmeras denúncias de abusos, incluindo execuções extrajudiciais, deportações arbitrárias, remoções forçadas e destruição de casas.
Enquanto isso, o presidente Maduro, que controla o judiciário, colocou os serviços de inteligência em ação para deter e processar arbitrariamente políticos da oposição e críticos, minou a capacidade de legislar da maioria opositora na Assembleia Nacional e usou seus aliados no tribunal eleitoral para obstruir um referendo.
De fato, há uma longa história de autocratas governando para si mesmos e não para o seu povo. Mesmo supostos modelos de desenvolvimento autoritário, como a Etiópia e Ruanda, estão permeados por sofrimento infligido pelo governo, quando olhados de perto. O governo etíope forçou os agricultores e pastores rurais a abandonarem suas aldeias para dar espaço a megaprojetos agrícolas. O governo de Ruanda deteve vendedores ambulantes e mendigos e os espancou em centros de detenção imundos em nome de um “projeto de limpeza das ruas”. A Ásia Central está repleta de líderes tiranos cujos países estão estagnados sob o domínio duradouro do estilo soviético de governo. Mesmo países relativamente vibrantes no Sudeste Asiático veem agora seu progresso econômico posto em risco pelo governo brutal da junta militar tailandesa e o governo dominado pela corrupção do primeiro-ministro malaio Najib Razak.
Grupos civis e o Tribunal Penal Internacional sob ataque
Na África, alguns dos ataques mais alarmantes contra os direitos humanos são orquestrados por líderes opressores que, recusando-se a transferir o poder de forma pacífica, restringem as críticas por meio da violência e da legislação. Um número desconcertante de líderes africanos retirou ou ampliou os limites de seus mandatos — algo conhecido como golpe constitucional —, enquanto outros lançaram repressões violentas para suprimir a oposição e os protestos públicos contra eleições fraudulentas ou injustas. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, da Guiné Equatorial, Yoweri Museveni, de Uganda, e Robert Mugabe, do Zimbábue — todos no poder há mais de 30 anos — alteraram as constituições de seus países para permanecerem no cargo.
Nos últimos anos, a onda de presidentes que buscaram mandatos adicionais algumas vezes tiveram sucesso por meio da supressão de qualquer movimento opositor, como em Ruanda, ou por meio da repressão violenta de protestos, como em Burundi e na República Democrática do Congo. Muitos desses governos usaram ferramentas semelhantes para restringir a atuação de grupos da sociedade civil e meios de comunicação independentes, para cortar o acesso às redes sociais e à internet, e calar a oposição política. Os ataques às organizações da sociedade civil se concentraram principalmente em suas formas de financiamento — a Etiópia foi líder nessa tática —, com governos que ativamente solicitam ajuda estrangeira, investimento e comércio exterior passando a, repentinamente, impedir que organizações da sociedade civil busquem financiamento internacional.
Este cenário em que líderes tiranos se recusam a deixar o poder por vezes se relaciona com a preocupação de ter que responder por crimes cometidos durante seus governos. O presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, foi o primeiro a anunciar planos para retirar o país da jurisdição do Tribunal Penal Internacional (TPI) porque a repressão violenta registrada em seu governo o tornou um grande alvo para um processo naquela corte. Ele foi logo acompanhado pelo presidente da Gâmbia, Yahya Jammeh, um ditador notoriamente brutal, embora pouco tempo depois ele tenha sido forçado a sair do governo após votações, e seu sucessor eleito, Adama Barrow, declarou que reverteria a decisão de Jammeh de deixar o tribunal. A África do Sul por muito tempo foi líder do continente no que se refere a direitos humanos e justiça, mas o presidente Jacob Zuma iniciou o processo para retirar o país do TPI num momento em que era perseguido por denúncias de corrupção e alvo de um embaraçoso questionamento judicial interno à sua decisão de ignorar uma ordem judicial ao permitir que o presidente do Sudão, Omar al-Bashir, fugisse do país em vez de responder às acusações do TPI por genocídio e crimes contra a humanidade. Ao mesmo tempo, o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, que teve suas denúncias no TPI retiradas devido à pressão sobre as testemunhas e à obstrução do governo à investigação da promotoria, alimentou ataques da União Africana contra o TPI.
O fato de que esses poucos líderes africanos não falam por todos os cidadãos do continente foi reforçado pelo reafirmado apoio ao TPI por parte de organizações da sociedade civil por toda a África. Elas foram apoiadas por países como Nigéria, Tanzânia, Senegal e Gana. Esses africanos não compraram a afirmação falaciosa de que o TPI, que é liderado por um procurador africano que luta para acabar com a impunidade que levou tantos cidadãos do continente a sofrer atrocidades sem qualquer alternativa, seria de alguma forma anti-africano.
O TPI, que até 2015 concentrava suas investigações apenas em vítimas africanas, é desafiado pelo fracasso de conseguir que Estados poderosos, incluindo os Estados Unidos, China e Rússia, se submetam à corte. Até novembro de 2016, o TPI ainda não havia aberto investigações formais em várias importantes situações não africanas que estavam sob exame preliminar, como as que envolvem autoridades dos Estados Unidos acusadas de cometerem tortura no Afeganistão mas que ainda não responderam a processos ou autoridades israelenses por sua política ilegal de transferência de israelenses para assentamentos na Cisjordânia ocupada.
Se os opositores do Tribunal realmente quiserem justiça equânime, eles deveriam liderar os esforços para encorajar a conclusão dessas investigações, ou pressionar a Rússia e a China a pararem de usar seu veto no Conselho de Segurança da ONU para impedir a jurisdição do TPI sobre as atrocidades cometidas na Síria. O silêncio desses países sobre essa busca mais ampla por justiça revela qual é a principal preocupação deles — minar as perspectivas de justiça em seus próprios territórios. O fato de vários países africanos quererem substituir um tribunal africano que eximiria presidentes no poder e outras autoridades diz muito.
Os ataques contra o TPI não ocorreram apenas na África, mas tinham algo em comum: um interesse pela impunidade. A Rússia nunca entrou no tribunal, mas desativou sua assinatura — um ato de significado simbólico, não prático — depois que o promotor do TPI abriu uma investigação sobre crimes supostamente cometidos durante o conflito entre a Geórgia e a Rússia em 2008 e colocou a situação na Ucrânia sob exame. O presidente Duterte, das Filipinas, chamou o TPI de “inútil” após seu promotor ter advertido que o encorajamento de Duterte a execuções sumárias poderia ser investigado sob sua jurisdição.
O TPI, com sua missão de fazer justiça nos piores casos criminais do mundo quando os tribunais nacionais fracassam, inevitavelmente entrará em choque com os poderosos interesses políticos contrários à responsabilização. Ele precisa da compensatória ajuda política e prática de seus apoiadores para obter resultados.
Ataques aos civis na Síria
A Síria representa talvez a ameaça mais mortal aos padrões de direitos. Não existe uma regra de guerra mais fundamental do que a proibição de atacar civis. No entanto, a estratégia militar de Assad tem sido disparar deliberada e indiscriminadamente contra civis que vivem em áreas do país mantidas pela oposição armada, bem como suas estruturas civis, como hospitais.
Com bombardeios aéreos devastadores, incluindo “bombas de barril”, bombas de fragmentação, artilharia de barragem e até armas químicas, Assad destruiu vastas extensões de cidades da Síria, com o objetivo de despovoá-las para dificultar as operações das forças de oposição. Essa estratégia foi complementada por cercos mortais com a meta de privar a população civil de alimentos e forçá-la a se render.
Desde setembro de 2015, apesar desses flagrantes crimes de guerra, Assad recebeu reforço de forças russas que aumentaram substancialmente seu poder de fogo, mas não alteraram sua estratégia. Na verdade, a estratégia parece muito semelhante à usada pelo Kremlin para devastar a capital da Chechênia, Grozny, em 1999 e 2000, num esforço para esmagar uma rebelião armada.
Esses crimes de guerra contra civis, cometidos com pouco esforço global para levar seus autores à Justiça, são a principal razão pela qual tantos sírios foram deslocados. A metade da população foi forçada a deixar suas casas, e cerca de 4,8 milhões fugiram para países vizinhos, principalmente Líbano, Turquia e Jordânia, com cerca de 1 milhão indo para a Europa. No entanto, quando se trata da Síria, o Ocidente continua com o foco primordial no ISIS. O ISIS é responsável por atrocidades indescritíveis e representa uma ameaça que vai muito além de sua presença na Síria e no Iraque, mas o número de civis que padeceram por sua causa na Síria é, de longe, superado pelos ataques de Assad. Fontes locais estimam que as forças de Assad e seus aliados são responsáveis por cerca de 90% das mortes civis na Síria.
Como a sobrevivência política de Assad hoje depende do apoio militar da Rússia, Putin tem enorme potencial de influenciar seus atos. Mas não há evidências de que o Kremlin tenha usado esse poder para deter a dizimação de civis. Ao contrário, os bombardeiros russos têm participação regular nas operações, como no trágico caso de Aleppo.
No entanto, o governo de Obama, em particular, tem sido decepcionantemente relutante em pressionar a Rússia a usar esse potencial de influência, concentrando-se, em vez disso, na Rússia como um parceiro nas negociações de paz — mesmo que as negociações tenham se arrastado indefinidamente com poucos avanços, enquanto os ataques a civis tornam ainda mais remoto a perspectiva de as forças de oposição sírias chegarem a um acordo com o governo.
A julgar pela retórica de sua campanha, o presidente eleito Trump parece determinado a aumentar o foco americano no ISIS e está até propondo se unir a Putin e Assad nesse esforço, claramente ignorando quão mínimo foi o esforço que ambos direcionaram ao combate ao ISIS e o papel que suas atrocidades tem no fomento ao recrutamento do ISIS. Mesmo que o ISIS seja finalmente derrotado militarmente, essas atrocidades poderiam facilmente criar novos grupos extremistas, da mesma forma que atrocidades semelhantes ajudaram a alimentar o surgimento do ISIS a partir das cinzas da Al-Qaeda no Iraque.
A necessidade de reafirmar os valores dos direitos humanos
O que é necessário em face a esse ataque global aos direitos humanos é uma reafirmação e a defesa vigorosa dos valores básicos que funcionam como alicerce desses direitos.
Há papéis importantes para muitos atores. As organizações da sociedade civil, particularmente os grupos que lutam para defender os direitos, precisam proteger o espaço cívico onde houver ameaças, construir alianças entre as comunidades para demonstrar o interesse comum pelos direitos humanos e abrir canais de diálogo entre o Norte e o Sul para unir forças contra os autocratas que estão claramente aprendendo um com o outro.
Os meios de comunicação devem ajudar a dar destaque às perigosas tendências em curso, moderando sua cobertura das declarações e condutas diárias com a análise de seus desenvolvimentos no longo prazo. Eles também devem fazer um esforço especial para denunciar e refutar a propaganda e as “notícias falsas” que certos partidários produzem.
Os governos altamente comprometidos com os direitos humanos devem defender mais regularmente os princípios fundamentais. Isso inclui democracias latino-americanas, africanas e asiáticas que agora votam de forma regular e positiva em iniciativas na ONU lideradas por outros países, mas raramente assumem a liderança, seja na ONU ou em suas relações diretas com outros países.
Em última análise, a responsabilidade recai sobre o público. Os demagogos são movidos pelo casuismo, ganhando apoio popular ao difundirem explicações falsas e soluções baratas para problemas reais. O melhor antídoto é que o público exija uma política baseada na verdade e nos valores sobre os quais a democracia foi construída, respeitando os direitos. Populistas prosperam em um vácuo de oposição. Uma forte reação popular usando todos os meios disponíveis — organizações da sociedade civil, partidos políticos, mídia tradicional e redes sociais — é a melhor forma para defender os valores que muitos ainda prezam apesar dos problemas que enfrentam.
Mentiras não se tornam verdade apenas porque são propagadas por um exército de “trolls” na internet ou por uma legião de partidários. As câmaras de eco que perpetuam as falsidades não são inevitáveis. Os fatos continuam sendo poderosos, e é por isso que os autocratas vão tão longe para censurar aqueles que relatam verdades inconvenientes, especialmente sobre o abuso dos direitos humanos.
Os valores são frágeis. Como os valores dos direitos humanos dependem principalmente da capacidade de empatia com os outros — reconhecer a importância de tratar os outros da mesma forma que gostaríamos de ser tratados — eles restam especialmente vulneráveis à atratividade do discurso excludente que profere o demagogo. A cultura de respeito aos direitos humanos de uma sociedade precisa de manutenção e cuidados constantes para que os medos de hoje não varram para longe a sabedoria que ergueu o regime democrático.